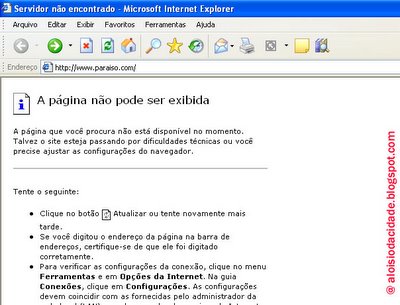- Eu escolho aquela que parece o Bob Esponja! Exclamou entusiasmada.
- Eu fico com aquela outra que parece o carro do Peter Perfeito, completei.
E ficamos, minha filha e eu, em acordo silencioso no qual eu não tinha idéia quem era o Bob Esponja ou qual nuvem se lhe assemelhava e vice-versa. Afinal, Peter Perfeito, o galã da corrida maluca, não era parte do imaginário daquela criança que cumpria quatro anos em pleno século 21, com a qual eu havia apostado um sorvete para ver qual nuvem ganharia a corrida. Inclusive porque, obviamente, a nuvem dela iria ganhar independente do comportamento dos ventos, das correntes de ar, dos aviões e pássaros que cruzassem o caminho, ou de quaisquer outras forças da natureza que pudessem interferir, pois nenhuma delas seria capaz de abalar a imaginação da criança que monta à sua própria maneira o quebra-cabeça da vida de forma a ganhar o sorvete de maracujá, tão sonhado naquele instante. Aquele sorvete, naquele instante, é o horizonte máximo da criança, é o sonho maior, maior que casa própria, que casar de véu e grinalda, maior que viajar pra lua.
As nuvens naquele dia estavam correndo mais rápido, causando diferentes impressões nos espectadores. Para mim, dava a impressão de que eu estava velho, o tempo passando, os anos passando, as nuvens correndo. Para ela, as nuvens estavam apostando quem chegava mais rápido no Ceará. "No Ceará?", perguntei. E ela respondeu, segura: "No Ceará. É onde elas vão chover.". Bonito o pretenso destino das nuvens, pensei, após minha filha versar sobre a seca do sertão, para meu espanto e orgulho – nessa ordem –, provavelmente papagaiando algum telejornal.
A imaginação livre da criança é sempre um reaprendizado. É colocar as coisas novamente sob uma velha perspectiva. Repensar: será que as coisas não são, na verdade, mais simples? Será que as nuvens não estão, de fato, indo pro Ceará? Será que o sorvete não é a coisa mais importante que temos para resolver agora? Em meio a tantos assuntos, preocupações que afligem o Homem adulto, tanto os pequenos quanto os grandes prazeres e realizações da vida ficam, muitas vezes, ofuscados: o sujeito precisa entregar um relatório e passa a noite no escritório bem quando o filho fala a primeira palavra; a esposa não quer viajar para a praia porque quer ir para o SPA e perde a primeira vez que a criança vê o mar; o pai está em viagem de trabalho quando a mãe entra em parto e o cunhado tem que levá-la ao hospital; a mãe conhece melhor o filho da personagem da telenovela que o próprio filho; enfim, são exemplos de conflitos que mesmo a óbvia hollywood já cansou de retratar.
O que realmente importa nestes momentos é fazer-se um par de tranças ou colocar um esfarrapado boné na cabeça e conversar a conversa da criança. E, com isso, ganhar em dobro: por um lado nivelar um diálogo fluido com a criança e por outro lapidar a possibilidade de reinventar as coisas, conceitos, fins e meios em nossa vida.
21 dezembro 2006
Corrida de Nuvens
27 novembro 2006
Paternidade
Você pode não ser pai ainda. Pode não estar casado, ser virgem inclusive. Pode ser estéril, gay ou simplesmente mulher. Pode ser adotado ou ainda não ter sequer conhecido seu pai por qualquer motivo que não vem ao caso. Mas todo mundo tem alguma idéia do que é paternidade. E para aqueles que nunca pararam muito em meio à intolerante rotina do dia a dia para pensar no assunto, eis uma oportunidade.
Costumo andar pelas ruas para observar a paisagem, as pessoas, alimentar a cabeça com essa enorme televisão de vivas cores, sons e outras semióticas. A impressão que eu tenho é que, quando não saio para caminhar, nada acontece. A vida passa, o dia termina, e eu não tenho nada a mais para contar para meus netos, e minhas histórias começam a entrar em loop. Assim, saí para caminhar, como faço diariamente. Os ares, lares, árvores, padarias, esquinas, anúncios de cerveja, placas de pare, parados como sempre e como sempre, inexplicavelmente diferentes a cada dia. Os mosquitos, carros, cachorros, executivos, luzes, vozes, como sempre, em frenético movimento. E a minha cabeça fazendo a média de tudo isso.
E assim a caminhada ia passando, e eu ia passando por uma vizinhança nova, para mudar de ares, lares, mosquitos, respirar novas idéias. Nesse meio tempo, achando que já estava sendo muito excitante meu tal passeio vespertino, notei uma aglomeração de gente misturada com buzinas e caras xingando o trânsito, coisa típica de metrópole. Tudo isso em uma rua supostamente tranqüila de um bairro jardim. Aproximei-me, curioso e observador como qualquer bicho, e logo percebi uma menininha estirada e inconsciente no meio da rua no meio da gente e um monte de gente rodopiando em volta da menininha trazendo água, buscando água, coordenando o trânsito, gesticulando entre si e falando no celular. E uma moça chorando sem lágrimas e gritando angustiada. Pelo drama, logo vi que a coisa era séria e pensei em perguntar o que aconteceu para logo decidir que não, já havia tanto desespero concentrado naquele metro quadrado que ninguém tem o direito de pedir satisfação, menos um transeunte recém-aterrissado na vizinhança por mero acaso. Então me postei, observei até decidir que tinha acontecido um atropelamento, definir quem tinha atropelado e entender que a moça que gritava e chorava sem lágrimas era a irmã mais velha da menininha estirada no asfalto. A atropelada, claro, era a menininha estirada no asfalto, ainda inconsciente.
Nesses poucos e longos minutos, gente passava, carros reclamavam o trânsito, alguns paravam para olhar, se comoviam, outros alimentavam a curiosidade mórbida com ares pretensos de respeito. Gente queria ajudar, gente tentava ajudar, mas acima de tudo, as gentes todas faziam alguma coisa apenas para se enganar e poder mais tarde, na mesa de jantar, enganar aos familiares – no meu caso meus netos – de que haviam participado de uma boa ação ajudando a pobre menininha, e se sentirem verdadeiramente heróicos e orgulhosos. Mas, de fato: ninguém tinha a mais remota idéia do que fazer. E a menininha continuava inconsciente.
Os passantes metidos a médicos com cultura de telenovela e série da Sony já a haviam taxado de morta, ou asseguravam que ela iria ao menos ficar tetraplégica, retardada ou alguma outra tragédia, afinal, nos filmes, um atropelamento deste calão não poderia passar impune pelo enredo. Mas todos se enganaram. Começaram a perceber que se enganavam quando chegou um homem, de aparência simples, estatura mediana, cabelos grisalhos combinando com o grande bigode igualmente grisalho. O homem ajoelhou-se e começou a falar calmamente com a menininha, como se ela tivesse caído da bicicleta ou tropeçado no espelho da escada. Uma súbita calma apoderou-se de todos. Um manobrou o carro que impedia a passagem dos buzinantes, outro trouxe a água com açúcar para a menininha que acordava, outro acalmava o motorista que tremia e temia pela vida da atropelada. Aos poucos, a menina abriu os olhos, respondeu ao senhor grisalho, levantou, caminhou para a calçada e abraçou-o fortemente por muitos minutos, assustada. Então os dois viraram as costas para o povo atônito, agradecendo discretamente a atenção de todos, saíram caminhando em direção ao edifício de onde havia saído a menininha antes do acidente.
Desta vez não resisti e perguntei à irmã, que os seguia e seguia com seu choro sem lágrimas – mas já sem gritar – e perguntei quem era o senhor que havia socorrido a menininha, se algum médico da rua ou algo que o valha e ela disse "Não senhor, ele é alfaiate. Mas é o nosso pai.".
04 setembro 2006
NOVAS: Texto sobre Tema (Texto sobre Tema?)
06 agosto 2006
Autofagia
Minha mãe, pobrezinha, sempre me importunava para eu parar de comer unha. Sim, ela e eu sabíamos que não era saudável este hábito. Mas que posso fazer, se eu tinha meus tenros anos, pré-adolescente e, não sei se porque realmente gostava ou se meramente por birra, acabei ficando estupidamente viciado neste estranho hábito autofágico.
O vício cresceu e se estabeleceu de tal maneira que não consegui abandonar nem com o contínuo amadurecimento da minha vida. No recreio do colégio, comia o dedo. Na sala de aula da faculdade, roia unha da mão esquerda enquanto a destra escrevia. Após as aulas, enquanto namorava, sempre com a mão esquerda dada à mão direita dela, roia a direita para igualar a poda.
Logo comecei a trabalhar. Sem perceber, nas mais importantes reuniões, desde que era um reles estagiário, devorava vorazmente meus dedos. Mesmo assim meu esforço e eficiência logo me renderam bons cargos e, antes do que se pudesse pensar, estava chefiando projetos e equipes e era uma grande liderança na empresa, centro das atenções. Meus dedos cabeçudos e sem unhas, no entanto, continuavam com sua triste sina.
Alguns me perguntavam se não me fazia mal mascar tanto chiclete e eu não entendia, até que me dei conta que era unha o que eu mascava com tanto prazer. Ficava horas e horas triturando aquele saudável bife de unha enquanto ministrava uma palestra, liderava uma reunião ou lia um relatório.
Tudo isso era absurdo, inaceitável e, por que não dizer, grotesco, claro, como já me havia prevenido décadas antes minha mãe. Não obstante, o tal hábito nojento sobrevivia aos mais variados testes: trabalho, casamento, mão quebrada. Uma época minha esposa tentou até me pintar com esmalte para que eu não comesse a maldita unha e, no final das contas, não é que comecei a gostar da coisa? Em especial um tal de Colorama "Brisa" que tinha um sabor que no fim das contas, combinado com a proteína da unha, lembrava vagamente uma pamonha.
Quando já todos haviam desistido de acabar com meu vício – todos inclusive eu mesmo – eis que o destino nos trouxe um cachorrinho vira-lata na porta de casa. O pobrezinho estava na rua, à noite, morto de frio, com cara de maus tratos, e não resistimos, minha esposa e eu. Logo o cachorrinho se mostrou um doce, muito carinhoso e conquistou todos da casa, da empregada à sogra. O bichinho, no entanto, gostava mesmo era de mim, e andava por todo canto me perseguindo e até mesmo me imitando. Eu falava, ele latia. Eu cantava, ele uivava. Eu comia, ele enchia a boca de ração. Era só me recolher e lá ia ele para baixo da cama tirar também uma pestana. Era tanta imitação que em um dado momento o cachorrinho começou, vejam só, a roer as unhas!
Claro que, a princípio, todos acharam a maior graça, menos eu. Achei um pouco estranho aquele hábito num cachorro. Digo, gato se lambe, macaco se coça, mas cachorro roer unha eu sinceramente nunca havia visto.
Não satisfeito, o cachorrinho aprimorou o hábito e deu para comer seu próprio pêlo também, o que realmente começou a chamar a atenção do pessoal em casa. Em questão de semanas, só haviam sobrado os pêlos da cabeça e as orelhas onde os dentes não alcançavam.
Não passou nem outra semana e o pobre já estava comendo o próprio rabo! Ainda havia um que outro que achava graça. Eu, no entanto, o levei imediatamente a diversos veterinários, especialistas, encontrei até psiquiatra de cachorro. Nem injeção, nem divã: não contente em comer as unhas e os próprios pêlos, passou a comer as patas, uma coisa horrível. Nós assistíamos a tudo, estupefatos! Tentamos colocar uma roupa de tecido, depois de couro, mas já não tinha mais volta, logo o cachorrinho foi se devorando pausada e insanamente. Alguns fugiram de casa para não ver mais a cena, outros preferiam simplesmente manter-se longe – já que depois que ele comeu a quarta pata ele não conseguia mais se mover. Já eu, resignado ao destino que o pobre do cachorrinho teria, procurei ficar ao lado dele e oferecer-lhe o máximo de carinho para os poucos membros que lhe restavam. Admito que era um pouco aflitivo fazer carinho, no final, em uma cabecinha sem orelhas nem língua, que já não latia nem nada, mas era o mínimo que eu podia fazer, afinal de contas tudo aquilo começara por minha culpa: o maldito hábito de roer as unhas...
Um dia cheguei do trabalho e estavam todos à minha espera com a triste notícia: o cachorrinho havia cumprido seu destino. Sua longa e autofágica jornada havia durado, no final das contas, cerca de seis meses e já não restava nada do pobre animalzinho. Ou quase nada, já que num gesto de reconhecimento havia deixado ao menos a linda coleirinha vermelha com seu nome gravado que eu lhe havia dado. Claro que, sem dúvida, o sabor da coleirinha não chegasse aos pés – ou seria às mãos? – da unha com Colorama "Brisa", das patas ou do rabo e talvez este fosse o verdadeiro motivo. Fosse o que fosse, procedemos com todas as honras e glórias condizentes com a triste situação e enterramos com uma cerimônia simples, mas muito amorosa, a tal coleirinha vermelha.
Após um trauma desta magnitude, eu imediatamente deixei de roer unha, pois era, claro, imponderável após tudo o que havia sucedido. Sabiamente deixei aquele hábito e de pronto passei a comer caca de nariz.
04 junho 2006
Kalaf
Kalaf é o nome do meu violão. É um velho Tocante, viola simples e surrada, herdada de meu falecido avô. Se já é curioso herdar um objeto, ainda mais curioso é herdar um objeto que serve para produzir cultura, tem uma certa vida, uma alma, um hábito.
Quando o vô faleceu eu estava começando a me interessar por música, por sua música, por violão. Então foi que minha vó nostalgicamente me deu seu violão, na esperança de que eu o tratasse com o carinho devido a meu avô e com a devoção devida a sua música.
Quanto mais eu toco o Kalaf, mais eu ouço. Ouço não a música, mas o canto e os reclamos do velho violão acostumado desde antanho com outros dedos, quem sabe outra melodia, quem sabe que melodia.
Mas o que mais ouço não são os cantos, são os reclamos de quem implora a presença de seu verdadeiro dono. Um instrumento que procura reencontrar sua antiga vocação em seu novo instrumento: minhas mãos, novas, inocentes, sem calos, sem dedal, sem unhas.
Com o passar dos anos vou perguntando com os dedos menos virgens ao Kalaf:
Sei que o vô cresceu infância no interior. Sertanejo?
Sei que o vô tocava com dedal. Viola caipira?
Sei que o vô viajou muito, adorava o Nordeste. Baião?
Sei que o vô viveu adolescente no Rio. Samba raiz?
...e para minha satisfação a cada música o velho Tocante reclama menos e soa mais. Toco o Brasil de Norte a Sul: o compositor simples da roça, a bossa com uísque dos intelectuais, a poesia musicada de Chico, o pagode com cachaça de tantos fundos de quintais, o baião incansável de Gonzaga, toco a tocata incompreendida de Villa-Lobos, o samba filosófico de Noel.
Percorro os trastes do violão como quem tateia a História em busca da história que o violão esconde em suas notas ora melancólicas ora alegres. Ora alegres, ora melancólicas como a vida aventurosa de um discreto gênio indomável que só fez alimentar a imaginação da netaiada com seus suaves e divertidos contos de areia.
Nesse compasso o tempo passou e não sei se foi tempo ou o vô quem me ensinou, mas agora, por fim, o velho Kalaf voltou a cantar.
26 maio 2006
Nova crônica no Morfina!
Sim, é sobre Copa do Mundo sim! Juro! Mas tem que ler até o fim...
Leia o texto "Prioridades" e comente, xingue, elogie, duplipense, encaminhe para a avó!
12 abril 2006
Pé com Pé
Minha esposa é maravilhosa, devo admitir. Desde que a conheci me enamorei, me aproximei timidamente, fomos nos engraçando, uma coisa leva a outra, gracinha pra cá, beijinho pra lá, uma coisa leva a outra e casamos logo mais.
No começo claro que era aquela paixão, aquele afã de compartilhar toda a sua vida com a companheira, cada conquista, cada evento, cada sentimento, cada pensamento, uma interação frenética saudável meio cansativa por vezes, mas natural e necessária aos casais recém-casados. Tudo isso regado por uma vida sexual mais natural e mais saudável ainda.
Com os tempos a energia estabilizou, o casamento amornou. Não posso dizer que perdeu a graça, mas sim que mudou de marcha. Uma série de rotinas tomou lugar, cada um começou a redescobrir e reconquistar seu próprio espaço, houve um pequeno afastamento, configurando o primeiro ciclo desta constante pequena tensão que revela o segredo de um casamento, a tensão entre a aproximação simbiótica e o distanciamento necessário.
Esse vem e vai foi e veio muitas vezes ao longo de anos e mais anos de relacionamento, entre aventuras, dificuldades, filhos, amigos, desilusões, trabalhos, celebrações, bobagens, emoções e quase sem perceber cumprimos 30 anos de casados. Se com 30 de vida já nos é aconselhável avaliar bem o rumo de nossas vidas, imagine com 30 anos de casamento. Avaliei e vi que, mesmo que não fosse a mesma testosterona em metabolismo constante dos primeiros anos, ainda que estivéssemos constantemente tirando um braço de ferro aqui e um cabo de guerra acolá, apesar de todos nossos acertos e deslizes, o saldo era legal. Algo insistia que éramos felizes.
A idade trouxe o acirramento das manias, aumentou a distância, aumentou o volume dos ronquidos, acabou com a brincadeira de médico, aferrou o mau-humor ao mesmo tempo em que diminuiu a paciência, a tolerância e o número de amigos casados. Ainda assim o tempo passou como filme de ação e chegamos aos espetaculares 60 anos de casados, com filhos, netos, bisnetos e saúde suficiente para tomar conta um do outro, aposentadoria razoável, família unida, um ou outro amigo sobrevivente. O que nos mantinha juntos era um pot-pourri de amor com amizade com sentimento de família, regado por uma enorme paixão pela vida. Mas tudo isso, todo o sentimento, toda a nossa história, todas as emoções, as aventuras, as desilusões, as conquistas, as tensões, as celebrações, as bobagens, os braços de guerra e cabos de ferro, todos vinham subitamente à lembrança da maneira mais terna possível quando, após um carinhoso selinho de boa noite, ela colocava a planta do pé dela, quentinho, sob a sola do meu pé, reafirmando assim, que, ao final daquele dia, nos amávamos como sempre.
11 abril 2006
Origens do Cavalheirismo
Alguns podem me chamar de maluco, velho, de fora de moda, anacrônico ou inventar outra palavra ainda mais difícil que anacrônico, mas nada disso vai mudar o fato: Sou um árduo defensor do cavalheirismo.
O cavalheirismo é um costume que vem de outras eras e foi aos poucos incorporado e acumulado desde tais remotos tempos nas mais diversas civilizações ocidentais. Sem notar, estamos o dia inteiro fazendo pequenos gestos injustificados, dogmatizados pela educação herdada pela burguesia brasileira da Belle Époque francesa.
O termo nasceu da idéia de nobreza na França (gentilhomme) espalhou-se pela Inglaterra (gentleman) e evoluiu em suas diversas formas e idiomas até chegar a essa pérola que temos em Português, que não tem porra nenhuma a ver com o "gentil" do francês ou do inglês. Botaram um "agá" no meio do cavaleiro pra diferenciar e dar mais trabalho aos disléxicos e professores de cursinho.
Até hoje, alguns hábitos são costumeiramente repetidos por homens e mulheres nesta relação dialética tão saudável quanto impensada. No entanto a grande maioria das pessoas desconhece o porquê destes estranhos hábitos que circundam nosso dia a dia. Com o objetivo de esclarecer esta inquietação que tira o sono de muita gente cavalheira por aí, reuni a partir de fontes fidedignas a explicação histórica para alguns dos mais celebrados atos de gentil-hombridade que vemos repetir-se no dia a dia, com o intuito de iluminar o cidadão cavalheiro. E os cana-brava também.
- Ladies first: Este famoso bordão comportamental parece sem sentido à primeira vista, mas basta um pouco de reflexão para dar-se conta que o homem deixa a mulher passar na frente ao abrir a porta da casa, elevador ou ao cruzar a rua simplesmente para ver em posição privilegiada a bunda da madame e seu gingado e ainda ser agradecido por isso. Não tem de quê!
- Abrir a porta do carro para a mulher sair: O homem abre a porta do carro para a mulher com o simplório objetivo de ver o decote dela enquanto ela levanta. Se não tiver decote? Não abra a porta, uai.
- Abrir a porta do carro para a mulher entrar: Necessário para que a mulher (com decote) não desconfie na hora que você abrir a porta para ela sair e der aquela secada na comissão de frente dela. Se não tiver decote? Não abra a porta, uai.
- Servir primeiro a mulher nas refeições: O homem claramente serve primeiro a mulher para poder depois pegar para si a melhor parte do rango (tipo a esquina do bolo de chocolate com cobertura ou o pedaço da torta de morango com morango)
- Peleja entre homens por causa de uma mulher: Dizem que já aconteciam as justas na idade média, duelos até a morte para conquistar uma mulher. Doce ilusão das fêmeas. Quando dois homens brigam, não é por causa da mulher em questão, é para aparecer para o resto da mulherada que tá em volta. E digo mais: especialmente para as amigas da namorada. Pode reparar que sempre que tem briga "por causa de uma mulher" tem um monte de mulher por perto fazendo cara feia como quem não gosta de briga, mas torcendo discretamente com o canto do olho pro mais bonitinho ganhar.
- Beijar a mão: Cumprimento mais manjado de todos cujo objetivo único é dar uma boa olhada nas pernas da donzela pra ver se preenche os requisitos e checar se não tem joanete.
- Flores: Hábito sagrado quando a coisa começa a ficar séria. Flores precisam de água. Não tem água no quarto nem na sala. Enquanto a mulher vai buscar água na cozinha você pode revistar pra ver se há vestígios de ex-namorado ou Ricardão e assim ficar mais tranqüilo para evoluir o relacionamento.
- Segurar a mulher que desmaia: um clássico roliúdiano para se apalpar a mulher indefesa. Aliás, indefesa nada, esta é uma técnica da mulher para ser apalpada "passivamente" fingindo que mantém a dignidade por estar "desmaiada" (falou!), como se ela não quisesse (falou! outra vez). Este truque feminino acontece também nas sessões de vídeo embaixo da coberta. Até parece que alguém em sã consciência dorme vendo clássicos como "Rocky V" ou "Duro de Matar II". Rá.
E há quem diga que a Idade Média foi a Idade das Trevas. Sinceramente...
02 abril 2006
História de um Momento de Glória
O Momento esperava calado que o tempo o alcançasse. Ele estava postado, duro, imóvel, mirando, consciente de seu papel, consciente de sua importância. Sabia que, mesmo que fosse apenas um momento, um rápido momento, ele iria, por fim, ser o protagonista da história.
O pobre Momento sequer chegava a ser uma hora, ou mesmo um minuto completo. Mas isso não o afetava. O que queria verdadeiramente era a oportunidade de SER. Isso porque os momentos nada são se não chegam a acontecer na realidade. Alguns quedam esperando, esperando, toda uma vida e morrem antes mesmo que lhes chegue o tempo tão esperado, de se converter por fim em uma situação, o tempo de ser ele mesmo una ocasião, de ser uma data, uma celebração. Não lhes importa tanto aos momentos em que irão se converter, importa primeiramente que em algum momento por fim existam.
Mas mais que uma simples existência, a esse Momento lhe prediziam desde criança que não seria um momento qualquer, e sim um momento de glória! Desta forma, ainda que com sua brevíssima existência, poderia seguir na memória de muitos e seria reproduzido em forma de conto, de história, de lembrança ou até souvenir. Poderia inclusive tomar a forma de livro em poucos anos, até um filme a partir do livro. E assim continuaria sobrevivendo o Momento através dos anos.
Porém o maldito tempo não passava. O Momento olhava e olhava constantemente o relógio mas o tempo passava cada vez mais devagar. Sua hora não chegava. Quando parecia que seria finalmente sua grande chance, o Momento se preparava todo, reunia sua concentração, juntava energias para fazer o melhor possível, tornando-se orgulho da família, e mantinha-se alerta, pronto para converter-se em um verdadeiro momento, maduro, glorioso.
No entanto o Tempo se revelava para o Momento um grande ditador. Os momentos estão subordinados a Ele, as horas, os minutos, as eras, todos estão subordinados a Ele. Tirano, impõe a todos seu ritmo, não se importando com os outros – os segundos, os minutos, as horas, os momentos –, todos têm que respeitá-lo e seguir suas regras.
Sim, o Tempo é inflexível, intolerante. Há momentos que chegam tarde, por ejemplo, e o tempo deles já havia passado. Não espera. Há histórias de momentos de tensão, momentos de surpresa, momentos de ternura, muitos tipos de momentos que, por um pequeno atraso, por menor que seja, não acontecem, não têm lugar no tempo e os momentos ficam largados, frustrados, fracassados, como se fossem aqueles ratos de laboratório que ficam correndo em uma gaiola rolante tentando inutilmente agarrar um pedaço de queijo pendurado a um palmo de seu nariz.
Este Momento de que estamos falando já havia escutado histórias de tantos outros momentos, que se sentia preparado para o que der e vier. Estava aí, malas feitas, pronto para entrar em cena assim que chegasse seu tempo. De tanto preparar-se, aumentando sua expectativa, foi aumentando também seu nervosismo, sua ansiedade, já não podia esperar mais as ordens do Tempo. Então o Momento começou a refletir sobre a ordem atual das coisas e sobre como o Tempo, sozinho, podia reger toda uma sociedade de compassos, de momentos, minutos, épocas, eras, tudo! Já não aceitava mais toda esta tensão a que se propusera para que chegasse um dia a ser nada além de um mero momento como protagonista do tempo, ainda que um momento de glória, claro, não obstante, não era justo. Todos ficavam largados, à disposição do Tempo, obedecendo seus mandamentos, esperando uma fugaz oportunidade de enfim existir.
O Momento começou então a unir seus companheiros. Juntos organizaram-se em um movimento contra a autoridade do Tempo. Proferia discursos belíssimos sobre a importância de cada indivíduo como momento, como cada pequena engrenagem do relógio, como cada um deles era essencial para a própria existência do tempo, que sem eles o Tempo não existiria e coisa e tal. O tal Momento de gloria havia de uma hora para outra desenvolvido uma retórica surpreendente, ninguém sabe explicar como. Uns diziam que graças à espera, tantos anos que teve que aguardar e foi amadurecendo as idéias; outros defendiam a tese que era uma característica inata daquele momento.
Enquanto tudo isso ia acontecendo o tempo passava como se nada e seguia marcando, regularmente, os segundos e minutos e seguia enfileirando os momentos de todos os tipos onde lhes conviesse estar.
Nesse meio tempo o Momento criou fama e começou a discursar entre momentos, segundos e minutos. Em pouco tempo estava falando até dos direitos das horas e dias, sempre arrancando efusivos aplausos da platéia.
O Momento estava muito popular. Tinha, em pouquíssimo tempo, uns tantos artigos e livros publicados, entre eles um best-seller: "A Relatividade da Relatividade do Tempo", aclamado pela crítica horária como um manifesto histórico muito importante, até hoje considerado um must desde acadêmicos até revolucionários ou simples curiosos. Foi neste momento, no ápice de sua popularidade, que lhe veio uma encruzilhada e o Momento se viu em uma situação de conflito e decisão nunca antes imaginada por nenhum momento que o antecedeu.
O Tempo, frio e cruel como sempre, se pronunciou e o Momento então foi informado que havia chegado sua hora. Era, finalmente, a oportunidade de existir! Ele seria tudo aquilo para que havia sido preparado durante sua vida inteira: um momento de glória, que quedaria para sempre na memória das pessoas.
Passaram por sua cabeça as imagens dos falecidos pais orgulhosos de que o filho seria um momento de glória, as recomendações dos momentos mais experientes, de seus professores e amigos, como deveria cuidar para não deixar passar seu momento, ao mesmo tempo ter muita paciência etc etc.
Por outro lado gritavam seus seguidores, que depositavam todas as esperanças em seu líder, ele. Pensou então em tudo o que havia passado, em todo o sofrimento, em tudo que havia construído, escrito, em todas as pessoas que contavam com ele, em seus pais, avós, nas horas e minutos e momentos...
Era uma questão ética muito complexa, em que tinha que levar em consideração sua natureza, sua inserção social em um mundo real que a ele, em um dado momento, lhe pareceu distante e inalcançável levando-o a correr atrás de alternativas, mas que agora estava se oferecendo de portas abertas. De repente se viu em uma situação em que não mais era marginal, mas era parte daquele mundo, como se nada tivesse acontecido. Por fim havia lugar para ele, um momento que seria celebrado por todos por anos e anos como lhe havia sido prometido há tempos. Então veio a dúvida.
Que fazer? Aquele que havia lutado pelos direitos de todos seus companheiros, havia desenvolvido uma nova proposta, com milhares de seguidores prontos para agir a respeito, de repente se lhe oferece esta oportunidade, questionando seu status marginal na sociedade e lhe oferecendo novamente uma posição de honra.
Após longa reflexão, como se deveria esperar de um momento de glória, desapareceu diante da ilusão que seria parte da história. A ambição, a glória lhe subiu à cabeça e o fez ignorar toda a história recente da relatividade da relatividade de sei-lá-o-quê. Foi então o momento, feliz, em seu papel de momento de glória, acreditando que fosse tão importante, acreditando que seria parte da história, como lhe haviam prometido. Se reconciliou com o questionado Tempo e saiu à vida.
Foi um momento precioso, celebrado por muitos durante um bom tempo. Porém o que ele não esperava foi que os outros momentos, minutos e segundos nunca o perdoariam: organizaram-se e logo muitas horas e minutos passaram, muitos outros momentos de glória se sucederam e foram ocupando a memória do povo – que não agüenta muito para começo de história.
Foi assim até que um dia todos se esqueceram. E aquele estupendo e sensacional momento de glória caiu no esquecimento.
24 março 2006
NOVAS: Crônica sobre fila
Aproveitem e explorem o excelente site do Morfina.
17 março 2006
Saca-Rolha
Os amigos e conhecidos menos próximos custavam a entender. Como é que Léo, um cara tão boa pinta, agradável, 30 e poucos, bem-sucedido, família íntegra, valores no lugar, enfim, um partidaço, não conseguia estabilizar com companheira alguma. Sei que do jeito que andam as coisas hoje em dia muitos arriscariam que ele fosse gay, mas não era o caso. Saía com beldades, mulheres interessantes e desejáveis e sempre pareciam o melhor casal do mundo. Porém ele pouco saía com outros casais, grupos de amigos, saía apenas com a mulher. De repente terminavam e ela desaparecia. Ele não apresentava para ninguém as mulheres nem nunca saía com mulheres de conhecidos – tipo prima, amiga, irmã –, dizia não dar sorte. Sua família reclamava que nunca levara uma namorada para jantar em casa nem nada e ele contestava que só o faria quando soubesse que era a escolhida.
Além destas peculiaridades, outros rumores estranhos cercavam os relacionamentos de Léo. Nunca terminava um relacionamento numa boa, a menina nunca era incorporada ao grupo de amigos. Justo ele, de temperamento tão ameno. Uma ou outra vez que houve contato entre os amigos e a namoradinha foi constatado, por exemplo, que ele usara nomes falsos: André, Estevan, Amílcar, Ronaldo, Marcos e assim por diante.
Eu, como melhor amigo dele, posso confessar agora para vocês qual era o problema que ocasionava toda essa estranheza: o pênis saca-rolha. Pois é, Léo tinha um pênis em formato de saca-rolha. Só eu e mais um ou dois chapas sabíamos de seu infortúnio fisiológico. Não é pra menos que apavorava as moças de quando em quando. Não é pra menos que ele usava nome falso. E não é pra menos que ele enchia a cara no Carnaval e saía cantando aquela marchinha "...eu passo a mão na saca, saca, saca, saca-rolha, e bebo até me afogar...".
Usava nome falso e não apresentava as meninas Evitava assim de espalhar a notícia para não ficar famoso na praça. Claro que uma ou outra dedava seu reprodutor pitoresco, mas com nome falso ficava sempre a impressão de que era mentira ou que a menina estivesse confundindo e falando de outra pessoa. De qualquer jeito, como ele era um cara bacana, todos faziam questão de lhe dar um desconto e acreditar nele a princípio, como se mais quisessem do que devessem crê-lo.
Léo continuou pulando de galho em galho, desesperançado, até que conheceu uma moça bonita, mais bonita que o habitual, interessante, solteira, ar tímido, com todos os traços que ele mais gostava. Ficou em dúvida, como sempre, porque já tinha sofrido muita desilusão. Pensou se não era bom demais para ser verdade, muita areia pro caminhão dele e coisa e tal. Pensou no tormento que seria caso se envolvesse e ela disparasse a gargalhar na hora do "vamo-vê". Tomou conhaque e tomou coragem quando percebeu que ela estava flertando acintosamente, ainda que com um quê de recato que só fazia enternecer seu jeito doce.
Ela foi bastante simpática, porém parecia se resguardar. Léo desconfiou de sua fama. Mas julgou que valia a pena arriscar porque a menina era muito especial. "Prazer: Luciméia.". Ele não gostou muito do nome, mas vá lá... Ele mesmo estava ficando sem nomes bonitos para se apresentar, todos já gastos com outras pequenas, e se introduziu como "Elesnir".
Os dois saíram algumas vezes, se conheceram pouco a pouco. Faziam um casal lindo, os amigos diziam. O papo era bom, o beijo era bom, o cheiro era bom. Um mostrava seu mundo ao outro e juntos se impressionavam com as pequenas intersecções, apelidadas de coincidências, como todos os casais em início de relacionamento.
O tempo foi passando e o relacionamento foi esquentando. E Léo começou a ficar preocupado, pois estava verdadeiramente envolvido com a Luciméia, apaixonado de verdade, e quando eles começavam a se beijar mais ardentemente começava a angústia do maldito pênis saca-rolha. Por isso ele sempre a encontrava em lugar público, numa tentativa ingênua de driblar a natureza sexual da relação conjugal com pizza, piadas, peça, pipoca e passeio no parque.
Um dia a Elesnir o convidou para um íntimo jantar à luz de velas e colocando-o em uma situação impossível de recusar. Disse que queria conversar a dois, em clima íntimo, e Léo desesperou. Mas foi. Consultou doze urologistas e doze cirurgiões plásticos – como já havia feito anteriormente – em busca de uma nova tecnologia que destorcesse seu membro, em vão.
Chegou a noite. Como era de se esperar, o clima foi esquentando. As preliminares foram delicadas, românticas, como não podia deixar de ser, pois Léo era delicado e Luciméia também. Não obstante o clima ficou caliente. Percebia-se uma relação muito especial por nascer, povoada de sentimento, mas regada com o desejo contido de Léo. Comeram maravilhosamente bem o salmão grelhado com alcaparras e etcetera. Trocaram carícias. Regaram as carícias com algumas taças de vinho. Beijaram. Comeram sobremesa. Conversaram. Tomaram licor de jenipapo. Léo estava tão envolvido que já tinha praticamente esquecido a questão peniana, absorto e hipnotizado que estava pela situação. Nesse clima quase onírico Luciméia delicadamente recuou, sorrindo suavemente. Disse então que gostava muito dele e perguntou sobre como ele se sentia. Léo – ou melhor, Elesnir – se prontificou a atestar a reciprocidade. Ela então, meio sem jeito, começou a enrubescer e tentar explicar algo, mas tinha dificuldade. Resolveu então ser direta:
- É o seguinte – disse sem mais delongas – Meu nome não é Luciméia, é Tatiana. E minha vagina tem forma de redemoinho. Pronto, disse.
E os dois então casaram e foram felizes para sempre.
14 março 2006
Desktupi
 Desktupi é a alternativa tupiniquim para preencher a área de trabalho de seu computador. Para utilizá-la, clique na imagem abaixo para abrir em boa resolução, clique com o botão direito (ou equivalente) e salve em seu computador.
Desktupi é a alternativa tupiniquim para preencher a área de trabalho de seu computador. Para utilizá-la, clique na imagem abaixo para abrir em boa resolução, clique com o botão direito (ou equivalente) e salve em seu computador.Em seguida altere a imagem de sua área de trabalho para o Desktupi e junte-se ao movimento: Desktupi já!

08 março 2006
Vida de Vila
Estava a caminho da locadora, percorrendo a Wisard, quando topei com uma boa amiga que, perdida no meio da rotatória, não decidia se atravessava, esperava, saía correndo ou gritava, quando eu cochichei “psiu, psiu...” de dentro do carro... Fazia exatamente um ano que havíamos nos formado, graduado compartilhando classe e trabalho de graduação e um ano que não nos víamos até que nos encontramos aquela noite, dez da noite, para descobrir que ela estava morando exatamente na janela em frente ao meu próprio apartamento, separados apenas pela outrora pacata rua Fidalga.
Passado o susto e toda a sucessão de imaginações que atravessaram a mente de minha amiga escaldada em uma Vila que não conhecia bem, moça oriunda de Sertãozinho e recebida pela zona sul desde sua chegada, não hesitamos em esticar o papo. Ainda mais abordada aos gritos à noite por um barbudo descabelado em um carro caindo aos pedaços.
Ela iria comprar cigarros. Eu, devolver o filme.
Paramos em frente ao bar onde o garçom cujo nome não me recordo (e talvez não queira recordar, apenas pelo folclore) trabalha há muitos anos. Chamei-o pelo nome que ele me atende: Leonardo, um dos ‘tartarugas ninja’ e ele veio me acudir no carro, naquela segunda-feira aparentemente insossa. Não só ele tinha os cigarros, como nos trouxe a bordo e ainda trocou dez.
Fomos à locadora recuperando histórias e acertando o presente. Devolvemos o filme sem maiores novidades e subimos ao meu apartamento para tomar um suco e compartilhar as histórias com minha mulher. O suco deu origem ao chá, seguido de alguns petiscos e a conversa foi embora, inocente, porém com muita graça.
Ao fundo, o som de uma jam session dessas que animam praticamente todas as esquinas da Vila praticamente todos os dias da semana, conservava nosso aparelho de som calado. Um cachorro qualquer uivava. No tom.
Descobrimos o quanto nossas vidas tinham rodado com enorme amplitude, ainda assim nos levando a um espaço físico tão próximo. Falamos sobre os colegas que sobreviviam no cotidiano, falamos sobre os colegas que sobreviviam no coração. Falamos das aventuras e desventuras dos dois recém-formados, falamos de pensamentos e sentimentos, e ouvimos a chuva principiar.
Toca o telefone e um bom amigo que também vive em nossa rua convoca para um samba de qualidade em um bar na rua de cima, no domingo. Domingo que é dia de tédio ou depressão na maioria dos países, das cidades, dos bairros, na Vila tem samba. Aproveito o ensejo para convidar minha amiga, que não gosta de samba, mas gosta de vida. Este foi meu argumento para convencê-la sem mais. Minha mulher, animada, começou a se agitar e listar alguns amigos solteiros que seguramente estariam presentes e poderíamos apresentar a ela. Demos alguma risada.
Perguntei à minha amiga o que a trazia à Vila e ela culpou o acaso. Uma pena, pensei. Ou uma sorte.
Perguntei na seqüência se iria ficar por tempo limitado. Disse que estava de favor enquanto procurava algo na Vila Nova Conceição. Descobri, sem muito esforço, que aqui estava se recuperando de uma severa crise emocional. Descobri que estava freqüentando algumas facilidades da Vila como a Yoga, a feira da Mourato Coelho e um par de restaurantes que a tinha apaixonada. Uma pena, pensei novamente, achando que ela iria gostar da Vila...quem gosta de vida, gosta da vila.
Algumas semanas depois, percebi, ao olhar a janela em frente, que ela não mais estava hospedada com a amiga. Justo quando chegava a primavera.
Quem é Diferente?
Pedro é um menino diferente. Enquanto todos jogam bola e videogame, ele gosta de cozinhar. Começou aprendendo ovo mexido para o café da manhã e hambúrguer para o lanche e hoje ele cozinha até feijão. E dizem que é melhor que em restaurante.
Ana também é uma menina diferente. Enquanto todas as meninas do colégio gostam de ir ao shopping, comprar roupas, ver cinema e paquerar, ela só quer saber de jogar bola com os meninos. Em vez de se arrumar com batom e maquiagem, ela põe logo a chuteira e se joga na lama, para o desespero da máquina de lavar roupa da mãe.
Ana e Pedro são diferentes dos outros e por isso os colegas os tratam muito mal. Os meninos tiram sarro de Pedro porque acham que cozinhar é coisa de avó. As meninas dizem para Ana que jogando bola ela nunca vai arranjar um namorado.
Um dia, depois de jogar futebol a tarde inteira, a Ana encontrou o Pedro perto de uma árvore comendo um sanduíche delicioso que ele mesmo havia preparado. Morta de fome depois de três partidas, ela pediu um pedaço e os dois começaram a conversar. Ana então percebeu que não era a única que se sentia diferente e Pedro também. Conversa vai, sanduíche vem, eles ficaram muito amigos.
Depois de muitos dias, muitos sanduíches e muitas conversas ao pé da árvore, eles começaram a observar que outros colegas também tinham alguma coisa de diferente: o Luiz é gordinho, a Mariana só ouve música esquisita, o João, sem seus óculos, não enxerga nem sequer o próprio nariz, a Juliana passa o dia inteiro desenhando e não presta atenção nas aulas, e assim por diante.
Juntos, Ana e Pedro concluíram que todos nós temos algo de diferente e que isto é o que nos faz ser quem somos. A partir desse dia, sempre que alguém reclama ou faz graça do jeito de ser deles, eles não ligam, porque aprenderam a gostar das próprias diferenças.
PUTA SEM-VERGONHA DESGRAÇADA MALDITA"
Muita gente anda dizendo que o mundo anda meio esquisito, cada um com seu relato pessoal. Sou obrigado a concordar, e a relatar meu próprio caso.
Estava andando em uma rua ordinária entre minha casa e o ônibus, me sentindo estressado. Naqueles tempos de cidadão comum, assalariado, atolado de problemas financeiros, insatisfeito em casa, insatisfeito no trabalho, insatisfeito na rua, sentia a pressão da sociedade por aquilo que chamam de 'sucesso'. Ainda por cima era um dia quente e estava atrasado novamente. Chegando ao ponto me deparei com uma mulher que discretamente retocava a maquiagem enquanto esperava a condução. Inexplicavelmente veio-me um ímpeto incontrolável de gritar, sem mais ou menos: "PUTA SEM-VERGONHA DESGRAÇADA MALDITA!!!" desse jeito assim, sem vírgula nem reticência. Pronto, pensei, lá vem bolacha na bochecha, e fiquei imaginando se ela era destra ou canhota para preparar mentalmente a face correta. Já via a cena toda acontecendo, todos no ponto se revoltando, ela me desferindo um sonoro bofetão na madeixa e dando-me as costas com a elegância das pudicas mulheres quase-católicas.
No entanto, para a minha estranheza – para não dizer de certa forma uma desilusão – ela não reagiu violentamente. Me mirou com uma cara de cachorro abandonado e desandou a chorar, pedindo-me mil desculpas, que eu tinha toda a razão e que ela iria mudar, prometo e tal. Achei esquisito.
O fato é que de alguma maneira o ocorrido me animou e, sempre que estava nervoso, descarregava com a primeira donzela que apontasse em meu caminho, não importava o calibre: gordas, magras, ricas, pobres, prostitutas, evangélicas, jovens, velhas, enfim, quando sentia necessidade, soltava indiscriminadamente meu mantra à primeira que cruzasse meu caminho: "PUTA SEM-VERGONHA DESGRAÇADA MALDITA!!!" e deleitava-me com a reação das mulheres, todas desculpando-se, mesmo as mais confiantes, as mais metidas, tímidas ou desavergonhadas.
Não sei explicar que diabos era este fenômeno, se as mulheres têm uma culpa inata por conta de algum resquício de nossa sociedade machista ou da predominância católica no país, se era algum outro fenômeno sociológico mais complexo ou se simplesmente minha ira era tamanha que não houve uma sequer que ousou suspeitar de que meus desabafos eram inverdades.
Sem limites, comecei a metralhar minha própria família: mulher, filha, mãe, tia... foi quando me dei conta que o exagero poderia causar problemas psíquicos quiçá irreversíveis e eu nunca mais conseguiria me relacionar de forma saudável com uma mulher sem xingá-la, inconteste: "PUTA SEM-VERGONHA DESGRAÇADA MALDITA!!!". Me retirei a um afastado recanto na serra, em meio à natureza e com um acompanhamento psiquiátrico para tratar o estresse e retomar minha vida normal, em que as mulheres não eram todas putas sem-vergonhas desgraçadas malditas.
O que eu não podia ter imaginado era que, na minha ausência, a coisa se tornou uma mania e todos os homens da cidade começaram, pouco a pouco, a extravasar suas tensões na cara das mulheres que, conforme já vimos, retornavam em choro, lamentos e desculpas. Não sei se foi um ou outro amigo para quem eu havia contado e gostou da idéia ou alguém que viu o que eu fazia e fez igual, ou se saiu em algum telejornal ou programa de comportamento da MTV, mas a mania pegou pra valer:
Patrão xingando secretária: "PUTA SEM-VERGONHA DESGRAÇADA MALDITA!!!"
Funcionário xingando a chefe: "PUTA SEM-VERGONHA DESGRAÇADA MALDITA!!!"
Filho xingando mãe; criança xingando velha; o âncora do telejornal xingando a âncora do telejornal; ator xingando atriz no meio da peça de teatro para delírio da platéia; motorista xingando a oficial de trânsito sem tomar sequer multa; torcedor xingando a mãe do juiz; todos as categorias de homens tratavam as mulheres por putas sem-vergonha desgraçadas malditas sem o menor pudor.
Recém-chegado de meu tratamento, aquilo tudo me pareceu insólito e até fiz duvidar de mim mesmo quando lembrei que tinha sido eu mesmo quem havia inventado esta burlesca expressão.
Finalmente cheguei à casa, onde minha mulher me esperava com meu favorito bolo de fubá e cara de boas-vindas. Havíamos nos falado muito pouco durante meu retiro por recomendações médicas. Ao me ver entrar na casa ela sorriu, enquanto eu a cumprimentava com doçura: "Boa tarde, querida, como vai?", abrindo um sorriso e cerrando os olhos esperando um saudoso beijo quando fui presenteado com um sonoro bofetão com o verso da mão aberta na madeixa direita.
Quando dei por mim, assustado, enquanto a ouvia reclamar como eu podia ser tão desrespeitoso e vulgar, recuei e abri os olhos apenas para vê-la elegantemente dar-se a volta, empinar o nariz e marchar, com o orgulho ferido, resmungando baixinho para si: "Ora, justo eu, a maior das putas sem-vergonha desgraçadas malditas...".
Onze do Onze
Será que esta noite chuvosa de 11 do 11 marcará a volta da minha insônia?
Um mês antes do casamento de minha prima, dois meses antes do aniversário de meu casamento, um mês depois do aniversário de meu irmão ou dois meses depois do onze do nove? Numerologia à parte, claro que essa bobagem toda já denuncia um bom tempo pensando em tudo e pensando em nada. E já que não sei meditar, fato consumado: estou insone.
Estava já com algum tipo de saudades, devia fazer alguns dez anos que não tinha crises de insônia – ou seriam 11 anos? –, aquelas profundas maravilhosas agônicas crises de insônia. Insônia “meia-boca” que não dá nem pra contar ovelhinhas; insônia “só põe a cabecinha”, em que você pensa que não vai dormir a noite inteira, já quer xingar meio mundo, e de repente acorda todo babado; insônia “fuma, mas não traga”; e finalmente a tão gloriosa insônia “Full-house”, “Xeque-mate”, “Touch-down”, “Home-run”, “barba e cabelo” e outras metáforas mais. Esta é aquela que te deixa de vigília, sem bocejo sequer para lubrificar a cachola, pensando, claro, em nada e em tudo. Daquelas que, se não tiver acontecido nada suficientemente bom nas últimas 24 horas da vítima, é suicídio na certa. No mínimo resulta em umas drugs, uma sessão de tortura na TV aberta – que eu incluiria junto com as drugs, não fizesse tão mal – ou no mínimo uma quebra na dieta para satisfazer alguma carência afetiva.
A insônia pode ter distintas conseqüências para cada tipo de cidadão. No caso do artista, a insônia pode ser bastante proveitosa, em alguma medida inspiradora. Um momento de profunda reflexão faz bem ao ato criativo. Deve, porém, ser uma insônia natural, verdadeira, autêntica, solitária, senão não será uma insônia saudável. Conheço um figura que ficou 7 dias sem dormir enquanto cursava artes plásticas na USP com o objetivo de forçar os limites da consciência e produzir algo genial. O melhor que ele produziu durante a vigília foi um par de quadros que nem a mãe gostou e uma tremenda olheira que, essa sim, chamou a atenção da mãe. No caso do artista, no entanto, a recomendação é que tenha acontecido algo de extraordinário nos últimos 60 minutos, pois é uma categoria de gente mais suscetível. Senão, já sabe: suicida.
No caso do boêmio, a insônia é parte do cotidiano. Pode até vir a ser um recurso para os mais alcoólatras: Se o sujeito fica a noite toda manguaçando e, quando finalmente alcança a casa, lá pelas 8 da manhã, não consegue dormir de tanto vomitar no tapete da sala, quem sabe mais tarde, ao chegar a noite, bate o sono e ele se salva de um novo papelão?
Mas a insônia é realmente um problema, no fundo, para o sujeito normal, mediano, como eu. Não tenho arte pra fazer, não bebo por conta da minha gastrite e não teria nunca a manha de suicidar. A única conseqüência da minha insônia é a proliferação de maus tratos e palavrões aos que chegarem perto, misturados ao pingado do café da manhã. Tento chazinho, leite quente... já mandei até chá de camomila com conhaque Presidente para aplacar a maldita, mas só rendeu foi os resmungues da patroa na cama contra o bafo de cachaça barata.
Em um momento de devaneio absoluto apalpei minha esposa na esperança que ela estivesse imersa em algum sonho muito erótico – ou qualquer coisa muito diferente de nossa realidade frígida. Podia até ser sonho com o amante, não me importava, só torci para ela virar e me brindar com uma chupadinha de ninar. Ganhei, claro, uma cotovelada na madeixa e mais resmungues de que não era hora – acho, na verdade, que a hora já tinha passado havia anos. O pior é que agora, além da insônia, tinha um pau duro pra resolver.
Como não poderia deixar de ser, fui castigar uma no banheiro, pensando em uma das bundas mais ou menos gostosas – de povo mesmo, não de revista – que tinha subido a escada do metrô na minha frente naquela tarde de terça-feira. Talvez tenha sido esta a felicidade que me salvou durante esta noite, mesmo apesar de que continuo duvidando de que eu tivesse colhões para me matar. Mesmo que não de suicídio heróico, dramático, como presidentes e poetas o fazem, um suicidiozinho anônimo, assim, umas pastilhas, um veneno de rato... Não, nem isso eu conseguiria. Meu destino era sofrer, sentir cada músculo do meu corpo ficando segundos mais velho, inerte, com a boca cheia de dentes esperando a morte chegar.
Voltei à cama, coloquei a coberta.
Tirei a coberta.
Coloquei a coberta.
Me virei para o outro lado.
Tirei a coberta.
Tirei a meia.
Tomei água.
Coloquei a coberta.
Virei para o outro lado. (Bem que poderia haver mais lados)
Enquanto isso eu seguia espantando os pensamentos que me bombardeavam tentando me fazer pensar sobre quem eu era de verdade, quem eu queria ser, o que eu fazia, o que queria da vida, essas coisas chatas.
Levantei, fui ao banheiro. Tentei de novo a bunda do metrô. Nem isso funcionou. Um bom motivo agora sim, para ter insônia. E dizer que já tinha tido performances memoráveis como aquela noite em que trepei a noite inteira com duas mulheres e gozei sete vezes... Sete? Ou teriam sido 11? Ou onze mulheres? Ou ainda uma mulher, uma vez, e 1 mais 1 é igual a 11? Já não raciocino direito, os números parecem com as letras e as letras parecem desenhos, os desenhos se fundem em formas...
- Acorda, já são seis horas!
Quisera dormir até as onze...
06 março 2006
Jogo de Azar
Ganhou, como acontece todos os dias com algum felizardo. Porém, na hora de retirar o prêmio, começou o barulho. Zé Alcindo não era muito velho, mas já estava na idade em que percebia-se que a vida não prometia enormes mudanças em sua fortuna. Casado, pai de cinco crianças, era bem quisto pela comunidade e não tinha problemas maiores que todas as pessoas ordinárias têm com sua prole, com a esposa ou com o trabalho.
Zé Alcindo era gente simples, vivia em aluguel, dia após dia. Era homem correto e tinha fama de justo e honesto. Trabalhador da periferia da cidade e torcedor do time mais popular, Zé era um sujeito mirrado, magro e de estatura mediana. Mantinha-se sempre de barba bem feita, ainda que não tivesse gilete nova, e tinha uma postura altiva, talvez pela confortável sensação de não dever nada a ninguém.
Zé era conhecido também por seu espírito solidário, especialmente no que diz respeito a dinheiro, coisa que o levava inclusive a ter muito prejuízo ao emprestar para amigos, parentes e conhecidos, que se aproveitavam de sua generosidade. Muitas de suas brigas ordinárias com a esposa eram decorrentes das dificuldades decorrentes dos empréstimos de Zé, o “banqueiro” (como era conhecido pelos malandros reincidentes, tratando-o com desdém).
Sua generosidade também ao ajudar continuamente um velhinho que morava no bairro e que havia sido aposentado à força por um acidente de trabalho com um salário pífio que mal dava para se sustentar. Todo mês Zé recolhia os números com o velho, apostava na loteria, entregava-lhe o bilhete e não o deixava pagar, argumentando que este merecia mais um golpe de sorte depois de tantos golpes da vida.
Um dia, porém, o velhinho olhou bem em seus olhos e disse, com a serenidade dos velhos: “Meu filho, este bilhete é seu. Guarde-o bem.”. Não adiantou de nada sua retórica do golpe de sorte e tal, o velho virou as costas e foi-se, com jeito de quem não voltaria mais.
Não deu outra: o pobre velhinho morreu. Zé pôs-se a pensar longamente e sentiu-se contente pelo fim do sofrimento do velho que deve estar mais bem acomodado em outras vilas. Lembrou-se então do bilhete de loteria. Zé nunca havia jogado, não bebia, não fumava, enfim, era uma daquelas personalidades que transita entre o puro eclesiástico e o careta social. O resultado já haveria saído?
Já. O resultado já havia saído... E Zé mal pôde acreditar: seu bilhete era o único premiado. Perguntou discretamente, face ruborizada pela novidade da situação, de quanto seria o prêmio para o felizardo, e recebeu de contra-golpe meia dúzia de zeros – sem contar aqueles que vêm depois da vírgula –, tanto zero que ele não sabia nem soletrar.
Um milhão de reais já seria um dinheiro significativo, quando não incomensurável, em qualquer extrato da sociedade, quanto mais Zé Alcindo, cuja humildade nunca havia visto pessoalmente mais de três zeros, e trombava em ocasiões muito especiais com a nota de 50. Zé foi pra casa e resolveu ficar só, pediu compreensão a mulher que indagou se não iria trabalhar, e recluiu-se em seu quarto por dois dias. Não comeu. Não bebeu nem água. Não falou. Estavam todos preocupados, em especial a esposa, com as contas e o supermercado na cabeça. O máximo que Zé fazia era repetir o clássico que a mulher mais odeia ouvir do marido em momentos de crise: “Confie em mim, mulher...”.
A TV, o rádio e a internet gritavam para todo lado a estranheza do grande novo milionário foragido que não aparecia para retirar sua generosa aposentadoria precoce. Espalhava-se aos quatro ventos como “pela primeira vez na história desde que inventaram o dinheiro” se via uma situação tão inusitada, em que um amontoado de dinheiro esperava por seu dono e este parecia não se incomodar. Repórteres saíam à caça do ganhador, piadas rolavam por e-mail entre as pessoas, mas nada de Zé Alcindo apresentar-se. Um dia, justamente no último dia que o ganhador tinha de prazo para retirar o prêmio, o governo federal já não sabia ao certo o que fazer com o prêmio abandonado, um tal de Zé ligou para todas as emissoras de TV, convocou jornalistas, familiares, amigos e toda a comunidade em torno da pequena lotérica do bairro para retirar o prêmio.
Zé Alcindo então recebeu o prêmio em meio a uma confusão sem precedentes. Em seguida, em entrevista coletiva à imprensa, declarou que havia pensado, pensado, e que havia concluído que não era justo ele receber aquele dinheiro sem merecimento nem necessidade. Ele não era rico, claro, mas nunca lhe havia faltado nada, nem à sua família. Zé alegava que muita gente havia acreditado na falsa ilusão do dinheiro fácil, sem labor, e que resolvera, portanto, compartir o prêmio com todos os outros apostadores.
Tudo o que se via, em questão de segundos, os amigos lamentando, a família chorando, jornalistas correndo atrás do próprio rabo, trombando, como formigas depois de terem seu formigueiro destruído por um pé maldoso de criança. Zé começou então a mandar o dinheiro pra todo mundo. Feita a conta, as pessoas receberam o equivalente à metade do dinheiro que gastaram, e entenderam a mensagem.
Depois desta feita, o discurso de Zé não parava de ser reproduzido nas escolas, casas e paróquias da grande metrópole e de outras. As casas lotéricas entraram em crise profunda... Zé, no entanto, começou a ser chamado para inúmeros eventos, pela mídia que adorava colocá-lo em entrevistas e programas diversos de auditório; pelo governo para palestrar desde universidades a penitenciárias; por ONG’s e institutos para promover trabalho voluntário. Era disputado até pelas empresas para dar palestras de motivação e trabalho em equipe!!!
No decorrer de alguns anos, a vida deu uma volta completa. Feliz com a família e amigos, o dinheiro foi deixando de ser um problema. Com o tempo, sua fama correu o mundo e Zé, aquele mesmo Zé Alcindo da Vila pobre da periferia da cidade, era agora cidadão do mundo, viajava, ganhava muito bem e palestrava em três idiomas.
Apesar das diversas interpretações, inclusive muitas vezes mal intencionadas, sua mensagem era sempre a mesma, qualquer que fosse o idioma ou o tema da palestra: Dinheiro que é ganho sem justificativa, sem suor, sem merecimento, não tem valor, não constrói, ao mesmo tempo em que pode destruir com facilidade muita coisa.
De onde Zé Alcindo tirou tanta sabedoria, nenhum sociólogo, psicólogo ou qualquer outro explicólogo soube explicar, mas o fato real é que, no fim da vida, Zé, homem realizado, famoso e respeitado, acumulava uma fortuna aproximada de seis zeros – sem contar aqueles que vêm depois da vírgula.
05 março 2006
O Flerte e os Bolinhos de Chuva
Não costumo andar muito de metrô, pois sempre estudei ao lado de onde morava, com meus pais na zona oeste, e não carecia transporte. Na faculdade onde estou, tenho dois colegas que revezam sua paciência em me aturar no caminho até São Bernardo, onde curso veterinária. Caminho bastante a pé e meus amigos, em geral, moram na redondeza.
Naquele dia, porém, ia visitar uma tia-avó que me era muito querida desde a infância e havia me convidado para um chá. Dia de sábado, resto de sol quente se pondo, e um metrô muito aquém da movimentação megalopolitana usual em dias de labor me levava até meados da zona leste, outro lado da cidade, onde a tal tia me esperava com um toddy muito doce e dedinhos de manteiga ou bolinhos de chuva - essas coisas que só os mais velhos ainda fazem, apesar de todos, não importa a idade, gostarmos.
Entrei no metrô e imediatamente uma série de coisas começaram a chamar minha atenção. Não sei quanto aos usuários assíduos, mas para quem anda apenas de vez em quando no metrô como eu, os passeios são muito interessantes e bastante contemplativos. Pessoas de toda sorte, classes sociais distintas, idades mil, amigos, amantes, parentes, carentes. Isso para não mencionar os cortes de cabelo... sim, porque se um dia alguém quiser alguma inspiração para figurino de Almodóvar, basta passar um dia no metrô de São Paulo, entre os rappers, manos e hip-hopers, entre os operários, secretárias, prostitutas, playboys, patricinhas e desempregados, drag-queens, padres e estudantes, como eu: cortes que variam de volume, tamanho, cor, textura, cheiro, quantidade ou escassez, combinando com as vestimentas igualmente variadas em tons, cores e texturas.
Foi bem no meio dessa babel de cabelos – em um dia particularmente prolífico – que encontrei justamente um rapaz sem cabelos. Cabeça lisa, perfeita, brilhante, negando através da pequena subversão à moda uma vaidade inerente. Um rapaz moreno bonito, discreto, cabeça baixa, aparentemente absorto, porém atento. Vestindo camisa pólo bastante usada e sapatos que há tempos não vêem graxa, ele me chamou a atenção.
Comecei a observá-lo com maior interesse e não pude deixar de notar um olhar tímido em minha direção, com a cabeça igualmente baixa e um pequeno sorriso escondido. Eu hesitei um pouco, mas com o tempo e com a insistência daquele olhar, eu retribuí o sorriso. Pouco a pouco vinha superando a timidez que me corroera as tripas na adolescência e em boa parte da juventude, e tinha me dado conta de que eu havia deixado de aproveitar muita coisa porque não esticara o braço para agarrar com força a oportunidade. Tudo por conta da timidez.
Continuei fotografando a paisagem, agora com escala obrigatória nos olhos também tímidos do meu menino, que disfarçava, mas me observava. Entra passageiro na estação da Sé, desce passageiro na estação da Luz; vendedor de cocada vende bala compra passe faz foto, pedinte pede Real, bêbados pedem perdão, crianças desacompanhadas pedem passagem. Entraram e saíram vermelhos políticos, verdes artistas e amarelos vaidosos. Passaram guardas, cachorros e bicicleta; cidadãos comuns, de engravatados a sem-camisa, esportistas, camelôs, velhinhos lendo reader’s digest; moças gordas com bundas de Nélson Rodrigues; moças magras com bundas com sotaque francês. Eu permaneci, com meu menino em vista, vez por outra arriscando o tal sorriso.
Em meio ao flerte, ignorei a má educação do jovem que escarrou a meu lado, ignorei os assovios e palavras chulas de um grupo de moleques, esqueci do fim de calor do fim de tarde e finalmente passei a estação em que deveria descer ao encontro dos bolinhos de chuva. Esqueci onde estava, aonde ia. O tempo passou, muitas estações passaram, meu menino continuava imóvel e minhas emoções começaram a entrar em erupção, incontroláveis. Meu pensamento decolou fugaz e mil situações românticas me vieram à cabeça. Situações do passado vinham ilustrar o que eu queria fazer no futuro, uma velha chama escondida voltou a inflar meu peito, trancado havia muitos anos, e senti minha pele mais colorada, diferente do tom branco 'OMO dupla ação' habitual.
Mais estações passaram. Todos os tipos descritos foram abandonando o vagão e, após certo tempo, ficamos sós. Meu coração, neste momento, já estava em algum lugar do esôfago, o cérebro tinha dado tilt, o branco havia retornado em forma de suor frio, congelando todos os movimentos possíveis imagináveis para aquela situação: a sós com meu menino, que me fitava cada vez mais ousado. Quedei imóvel, aguardando o próximo ato, solenemente deixando o tempo passar.
Ele então se aproximou, meu menino, passo a passo a passo, lento, soberbo e ingênuo ao mesmo tempo, meu menino, sorriso já estampado na cara, leve ginga de malandro brasileiríssimo e eu, quase surtando, comecei a ponderar como seria sua aproximação: seria graciosa, com um cumprimento do tipo “Bom dia.”; seria torpe, atrapalhada como “Oi... er... tudo bem?...”; seria chauvinista, insegura, como “Você tem horas?”, acompanhada de um pigarro; seria um típico chavão tal qual “Você anda sempre nesta linha?”. Fiquei horas imaginando, ainda que foram poucos segundos durante os quais ele atravessava os sete assentos que nos separavam. Então ele fixou seu olho no meu, congelando automaticamente minha espinha, e, sério, com uma frase, originalmente distinta das que eu havia imaginado, me apaixonou:
- Isto é um assalto!
Quinze Minutos
Mantenho meu relógio 15 minutos adiantado. É curioso... todos me dizem, insistem, afirmam, gritam, suplicam, esperneiam que, ingênuo de minha parte, apenas tendo consciência dos tais quinze minutos, eu imediatamente consertaria os ponteiros na minha imaginação e no fim das contas não faria a menor diferença.
Eu insisto! Manifesto que não obstante à consciência, existe qualquer coisa mítica por detrás dos ponteiros-quase-chegando-no-horário, algo de pressão naquela impressão visual de estar constantemente atrasado, que me mobiliza. O que será?
Talvez seja o velho costume adquirido na puberdade colegial de deixar para a última hora a lição de casa, ou estudar na véspera da prova. Talvez seja o trauma vestibulando de despender um ano inteiro estudando neurótico para a prova e, portões fechados, atrasado justamente quinze minutos, atrasar um ano mais naquela agonia. Certa feita cheguei atrasado até mesmo na minha própria festa de aniversário surpresa e metade das pessoas havia ido embora.
O fato é que estou sempre tentando me enganar, anotando na agenda a prova um dia antes, falando o horário mais cedo para minha mãe, minha mulher ou a secretária me apressarem, e, finalmente, adiantando o relógio, acreditando tanto nessa pequena mentira e acabo por consertar minha vida. Nada mais de chegar atrasado no médico, perder sessão de cinema ou teatro, multas de zona azul, esse tipo de coisa.
Em meio ao êxtase de haver conseguido improvisar minha pontualidade britânica, topei com a triste realidade de que não me adiantaria nada ao lembrar o quão inútil era ser pontual, pois os outros compromissados falhavam em cumprir sua parte: o médico atrasava, o espetáculo não começava no horário, o parceiro de reunião estava preso no trânsito... Me perguntei qual era o problema e a resposta é simples: Acontece que moro no Brasil.
04 março 2006
Tem Certeza que Deseja Excluir?
Paraíso 404 - Not Found
03 março 2006
O Cupido e a Azeitona
Lá na Casa Verde não era diferente: todos conheciam a todos, o clima era de tédio. O pessoal até apelidou o trabalho de “Repetição Pública”, tamanha era a rotina e a mesmice do trabalho e das pessoas. Não havia grandes segredos, não aconteciam grandes eventos, a última notícia que causou alguma euforia nas pessoas fora um assalto na rua de baixo. Ninguém havia visto nada, mas, ao menos, significava algum assunto novo na hora do café.
Nesse contexto, vivia Arnaldo, um funcionário extremamente dedicado, porém sem brilho, muito tímido. Seus grandes feitos nunca eram reconhecidos, já que as pessoas em volta o ofuscavam, roubavam parte de seu crédito e ele, quieto e pacato como sempre, não se importava. Sua timidez era notória, alguns o tomavam por homossexual, pois a Juzimara, a secretária do chefe, uma mulher grande, alguns anos mais velha, cheiro de perfume barato, seios voluptuosos, cadeiras salientes - um verdadeiro caminhão de mulher, como diziam os mais desejosos -, já havia feito de tudo, sem sucesso... Ele sequer se defendia, apenas murmurava “Não é mulher para casar. Não me interessa.”.
O que ninguém notava, no entanto, era o olhar de Arnaldo em direção a Gertrudis, uma escrivã aparentemente sem graça, saia sempre longa, cabelos presos no alto da cabeça, óculos escondendo seus olhos caramelo, sorriso pequeno (que sempre cobria com a mão elevando os ombros, ao sorrir). Arnaldo era discreto, tão discreto que nem mesmo Gertrudis havia notado seu interesse! Não contava aos colegas com medo do barulho que causariam, nem se declarava com medo de ser recusado.
Gertrudis não deixava de ter certa atração por Arnaldo. Ela era a única que percebia sua dedicação ao trabalho e que reconhecia seu mérito. Admirava-o por isso, mais ainda por sua humildade de não contestar quando os colegas tiravam proveito de seus feitos e sacavam glórias indevidas. Para ele, o que importava era a certeza do dever bem feito. Gertrudis olhava timidamente e sorria seu sorriso pequeno, mas parava por aí. Dessa maneira, ambos sofriam embebidos em paixão platônica um relacionamento que estava ali ao lado, pronto para florescer.
Certo dia, no entanto, a repartição foi palco de mais uma das artimanhas do cupido. Houve um sorteio de um jantar romântico para dois no dia dos namorados em um restaurante bem razoável na Zona Oeste, e adivinhe quem levou? Arnaldo ganhou os ingressos. Digo que foi arte do cupido porque a sorte nada tem a ver com isso, já que Arnaldo era conhecidamente azarado, nunca em sua vida havia ganho sequer no Banco Imobiliário, quanto mais no Bingo ou um sorteio qualquer. Arnaldo enrolou e os colegas começaram a brincar e pressioná-lo a convidar a Juzimara para uma noite de volúpia, indiscretamente vomitando piadas sobre comer um bacalhau fresquinho e dois melões de sobremesa, entre outras obscenidades.
Arnaldo não cedeu à pressão e, determinado, dirigiu-se à mesa de Gertrudis, dizendo sucintamente: “Quer jantar?”. “Sim”, respondeu ela, sucintamente, como se estivessem tratando de um ofício que seria despachado ou um arquivo morto que devesse ser localizado. Marcaram, e no dia escolhido pelo cupido, Arnaldo foi buscá-la. De ônibus.
Os dois se entreolharam, ele com um pouco de perfume de mal gosto e com um terno que parecia de seu pai, camisa listrada, cinto e calça pretos, cabelo engomado e sapatos sobrengraxados, lustrados em exagero para esconder o desuso. Ela chegou com uma saia cinco dedos mais curta que sua saia sempre longa, o que já causou certa comoção em Arnaldo. Estava com o cabelo preso, mas sem os óculos, revelando os ternos olhos caramelo, de maneira que pela primeira vez Arnaldo percebeu como ela o olhava, comovendo-o novamente. A verdade é que o convite para o jantar a fez se sentir “mulher” pela primeira vez na sua vida, apesar de ela não saber muito bem como lidar com esse sentimento.
Após um traslado tranqüilo, chegaram ao boteco - pretenso restaurante europeu. O garçom apresentou-lhes a carta com os pratos paulistanos disfarçados com nome francês e o casal engoliu toda a fantasia, feliz e preocupado apenas um com o outro.
A mesa posta, reservada, no centro da casa, era de certa maneira intimidadora, já que o casal sofria gravemente do já descrito problema de timidez. A concentração dos dois era tamanha, no entanto, que se instalaram e pediram um vinho nacional com a maior desenvoltura, e Arnaldo desandou a falar sobre os mais variados assuntos, como infância, pais, trabalho, a questão da reforma tributária, enfim, o que vinha na cabeça dele, também por medo do silêncio. Gertrudis ouvia com atenção e balançava a cabeça de cima abaixo, em geral concordando. Vez por outra concordava com a discordância de Arnaldo em relação a alguma questão e variando o eixo do movimento, balançava a cabeça lateralmente.
Arnaldo se sentia nos céus. Não era virgem por pouco. Tinha tido uma namoradinha, uma menina do prédio, a qual dizia-se que conhecia todos os apartamentos do prédio, que o achava bonitinho, mas que o largou por um surfista maconheiro, deixando-o desolado, apaixonado. Gertrudis nunca tinha namorado sério, mas em uma brincadeira de médico, na qual o tema era cirurgia, foi aos finalmentes com um primo bem velho. E nunca mais. Sequer tinha certeza se aquilo realmente era o que diziam ser “fazer amor”.
Os dois já conversavam fluentemente quando o garçom aproximou-se com o vinho e um couvert: torradas, pão de queijo, duas azeitonas verdes graúdas, manteiga e um patezinho de atum com salsinha bastante simpático. Apressaram-se em terminar o assunto que estava embalado, sobre uma possível conspiração dos chefes de repartição pública para dominar o Brasil e instaurar uma ditadura - uma teoria de Arnaldo que ganhou admiração indissimulável de Gertrudis - e partiram educadamente ao ataque, dentro do tanto de educação e polidez que a simplicidade de ambos permitia.
Arnaldo insistiu que a dama tomasse a iniciativa, mais por medo de errar alguma etiqueta com relação à maneira de pegar na faca ou passar manteiga na torrada, um pouco talvez por cavalheirismo. Gertrudis delicadamente alcançou uma torrada e pediu licença a Arnaldo para experimentar o patê. A conversa diminuiu o ritmo e Gertrudis começou a tomar a iniciativa, estava se sentindo mais à vontade após bebericar um pouco de vinho tinto de Petrópolis e principiou a falar de sua vida, família, preferências e outros assuntos de gente tímida.
Arnaldo participava realizando, em seu turno, seu próprio repertório de concordos com a cabeça, acrescido de um pouco de sobrancelha às expressões, olhando fixamente um tanto desconcentrado com relação a conversa em si, pois sua cabeça nada podia pensar senão “Será que ela está gostando? Meu Deus, estou fazendo tudo direito? Ai, eu sabia, essa roupa não tá combinando, olha a cara dela...”. Acrescentava um ou outro comentário “coringa”, daqueles que serviriam para qualquer ocasião em qualquer lugar do mundo, com qualquer companhia, a qualquer hora. Falou sobre o tempo, sobre o sabor espetacular do vinho (que não tinha nada de saboroso), sobre o quão agradável era o restaurante e que sorte a dele em ganhar o convite.
Eu já mencionei que de sorte não teve nada, e que o tal convite para jantar fora obra do cupido. Digo mais, o cupido resolveu então dificultar um pouco as coisas que estavam indo tão maravilhosamente bem em uma noite que prometia selar um amor profundo com casamento e descendência. Arnaldo esticou a mão para provar uma azeitona. Gertrudis seguiu o falatório.
Foi quando Arnaldo engasgou. Quase tossiu, quase devolveu tudo à mesa, cuspindo o caroço no olho de Gertrudis, mas segurou sua reação em um movimento ninja de controle do esôfago e se restabeleceu sem que Gertrudis percebesse nada. Morreu de vergonha do que havia sucedido, não queria que Gertrudis percebesse, o que iria pensar de um sujeito que engasga com azeitona, pensou. E calou. Com caroço e tudo.
Gertrudis seguiu falando, mas percebeu certa alteração em seu companheiro, que não mais falava e vestia um semblante mais sério. Ao sorrir, não mais mostrava os dentes desalinhados, mantendo a boca fechada, expelia algumas gotas de suor, sua coloração parecia meio amarelada. Gertrudis imediatamente começou a se questionar se estava sendo companhia agradável, começou a sentir-se mal, a timidez voltou a crescer dentro de ambos. Arnaldo, com toda a vergonha de mostrar que tinha engasgado, não falava mais palavra sequer, além de que, a esta altura, o tom amarelado havia evoluído para um certo azul-esverdeado, enquanto respirava ruidosamente por suas narinas estreitas. Em Gertrudis crescia a certeza de que Arnaldo não estava desfrutando de sua companhia, e toda sua auto confiança começou a escorrer até o ponto em que começou a tentar esticar a saia para cobrir os cinco centímetros a mais expostos de suas pernas brancas.
Arnaldo tentou de todas as maneiras desengasgar discretamente, com a garganta, tomando um trago de vinho, se deu até uns tapinhas na nuca, esperançoso de que tudo voltasse ao normal, sofrendo com o tormento do caroço entalado na garganta. Tentou jogar um talher ao solo e abaixou, se esforçando embaixo da mesa em se livrar do companheiro inadequado. Gertrudis estranhou os ruídos. Tentou tossir, espirrar, não saía tosse, não saía espirro, não saía caroço, não saía voz...
Visivelmente irritado, levantou e foi ao banheiro em uma última tentativa desesperada, deixando sua amada a sós com o couvert. Um garçom, atento, começou a ouvir alguns ruídos inusitados partindo do toalete masculino e foi verificar. Adentrando o banheiro, descobriu Arnaldo em uma posição dificílima de descrever, correndo de costas, de cócoras, com uma mão puxando o queixo para baixo escancarando a boca, a outra se batendo na barriga enquanto topava as costas na parede, desequilibrado soltando um grunhido inédito.
O garçom se prontificou a ajudá-lo, esmurrando as costas, abraçando-o por detrás com todas as suas forças na tentativa de expelir o maldito objeto, mas de nada adiantou. Convocou então um time de futebol de garçons e começaram: dois apertavam a barriga, três o seguravam de ponta-cabeça, outros esmurravam as costas, uns até faziam cócegas nos pés ou lhe puxavam os cabelos, convencidos que ajudaria. Lá fora, o restaurante desatendido aguardava os garçons e profetizava o que poderia ser a barulheira dentro do sanitário. Certamente alguém havia comido algo muito indigesto, era o consenso geral.
Finalmente, quando o Jurandir cozinheiro, deu-lhe uma bicuda no cóccix, Arnaldo cuspiu o caroço, que varou a janela, quebrando o vidro e por sorte não atingindo ninguém, pois poderia acusar homicídio culposo. Arnaldo recuperou-se da surra, aprumou a camisa listrada com algumas marcas de chute, agradeceu aos companheiros com a voz recém-recuperada e marchou confiante, como um soldado que vencera uma difícil batalha, de volta à mesa para conquistar sua amada.
Se senta à mesa, sorridente, fala de música, cinema, viagens, até um pouco de novela para fazer uma moral. A moça sorri graciosamente, meio pálida, expressando certa aprovação com o olhar, mas não fala. Gesticulando, pede licença e logo se dirige ao banheiro, para surpresa do falante colega. Arnaldo então olha para o couvert e percebe que a outra azeitona não estava mais lá.
São Paulo, dezembro de 2001
Catatônico Informático ou Jonas e Gilda: Mais uma Triste História de Amor Interrompida
Todos se perguntavam: “Por quê?”.
Afinal de contas, Jonas era amado por todos, inclusive a própria sogra e até os vizinhos. Por que diabos isso foi acontecer com ele?
Futuro promissor, carreira ascendente, Jonas preparava-se para casar com Gilda, namorada havia tempos, mas que ele silenciosamente amou antes mesmo que ela notasse sua existência.
Jonas dera entrada em casa própria, possuía economias, já tinha recebido até oferta de trabalho no estrangeiro! Ficou, claro, por conta de sua amada Gilda.
Não chegava a ser filósofo, nem era muito conversador, mas quando se tratava de internet, não havia limites!
Jonas era da geração pós Revolução da Informação, da civilização plugada, aldeia global, conectada em sítios e não em canais de TV. Ganhara de presente seu primeiro computador aos 3 anos de idade. Trocava todo ano, claro, para não ficar obsoleto. Jonas cresceu no ciberdélico mundo da internet, em meio aos chats, conferências, sítios diversos, jogos, emuladores, simuladores. Curioso e auto-didata, se metia em tudo, aprendia, participava.
Aos 6 anos já era hacker. Aos 7 já trabalhava na IBM, programador e hacker “do bem”.
Com 9 anos Jonas já era diplomado analista de sistemas e programador sênior, gerenciava os sistemas dos oito maiores bancos brasileiros (que na verdade pertenciam a uma mesma holding internacional) e ocasionalmente fazia freelancer para o governo nacional.
Todos os ventos indicavam Jonas como herói nacional, não fosse aquela infeliz idéia do senhor Ministro não-lembro-o-nome da Informação e Sistemas, que decretou o tal “Feriado da Rede”, que ele clamava como “pelo menos um Domingo de verdade no ano”. Oras, o sujeito não podia Ter sido menos insensível nem mais arrogante!
O país afundou em depressão naquele Domingo. Os próprios psicanalistas e terapeutas não sabiam àonde recorrer, sem os chats e fóruns de discussão da Rede. Pessoas nas ruas eram vistas com tiques nervosos nas mãos e nos olhos, como se movessem um mouse invisível em uma tela inexistente.
Jonas não resistiu. Morreu de um mal comum nos países desenvolvidos: inanição de informação. Sem a conexão, Jonas tentou o jornal, a TV, o rádio, tudo junto até, mas não foi suficiente. De acordo com o depoimento de Gilda, pouco antes de ficar permanentemente catatônico, Jonas socava as paredes do apartamento: “Janelas, preciso de janelas!!!”, clamava desesperadamente o bom moço.
Faleceu aos 10 anos de idade. Pobre homem, futuro tão promissor, um verdadeiro vencedor, enfim, um modelo.