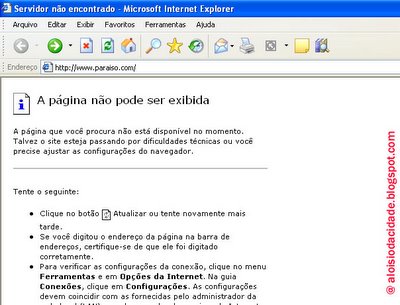24 março 2006
NOVAS: Crônica sobre fila
Aproveitem e explorem o excelente site do Morfina.
17 março 2006
Saca-Rolha
Os amigos e conhecidos menos próximos custavam a entender. Como é que Léo, um cara tão boa pinta, agradável, 30 e poucos, bem-sucedido, família íntegra, valores no lugar, enfim, um partidaço, não conseguia estabilizar com companheira alguma. Sei que do jeito que andam as coisas hoje em dia muitos arriscariam que ele fosse gay, mas não era o caso. Saía com beldades, mulheres interessantes e desejáveis e sempre pareciam o melhor casal do mundo. Porém ele pouco saía com outros casais, grupos de amigos, saía apenas com a mulher. De repente terminavam e ela desaparecia. Ele não apresentava para ninguém as mulheres nem nunca saía com mulheres de conhecidos – tipo prima, amiga, irmã –, dizia não dar sorte. Sua família reclamava que nunca levara uma namorada para jantar em casa nem nada e ele contestava que só o faria quando soubesse que era a escolhida.
Além destas peculiaridades, outros rumores estranhos cercavam os relacionamentos de Léo. Nunca terminava um relacionamento numa boa, a menina nunca era incorporada ao grupo de amigos. Justo ele, de temperamento tão ameno. Uma ou outra vez que houve contato entre os amigos e a namoradinha foi constatado, por exemplo, que ele usara nomes falsos: André, Estevan, Amílcar, Ronaldo, Marcos e assim por diante.
Eu, como melhor amigo dele, posso confessar agora para vocês qual era o problema que ocasionava toda essa estranheza: o pênis saca-rolha. Pois é, Léo tinha um pênis em formato de saca-rolha. Só eu e mais um ou dois chapas sabíamos de seu infortúnio fisiológico. Não é pra menos que apavorava as moças de quando em quando. Não é pra menos que ele usava nome falso. E não é pra menos que ele enchia a cara no Carnaval e saía cantando aquela marchinha "...eu passo a mão na saca, saca, saca, saca-rolha, e bebo até me afogar...".
Usava nome falso e não apresentava as meninas Evitava assim de espalhar a notícia para não ficar famoso na praça. Claro que uma ou outra dedava seu reprodutor pitoresco, mas com nome falso ficava sempre a impressão de que era mentira ou que a menina estivesse confundindo e falando de outra pessoa. De qualquer jeito, como ele era um cara bacana, todos faziam questão de lhe dar um desconto e acreditar nele a princípio, como se mais quisessem do que devessem crê-lo.
Léo continuou pulando de galho em galho, desesperançado, até que conheceu uma moça bonita, mais bonita que o habitual, interessante, solteira, ar tímido, com todos os traços que ele mais gostava. Ficou em dúvida, como sempre, porque já tinha sofrido muita desilusão. Pensou se não era bom demais para ser verdade, muita areia pro caminhão dele e coisa e tal. Pensou no tormento que seria caso se envolvesse e ela disparasse a gargalhar na hora do "vamo-vê". Tomou conhaque e tomou coragem quando percebeu que ela estava flertando acintosamente, ainda que com um quê de recato que só fazia enternecer seu jeito doce.
Ela foi bastante simpática, porém parecia se resguardar. Léo desconfiou de sua fama. Mas julgou que valia a pena arriscar porque a menina era muito especial. "Prazer: Luciméia.". Ele não gostou muito do nome, mas vá lá... Ele mesmo estava ficando sem nomes bonitos para se apresentar, todos já gastos com outras pequenas, e se introduziu como "Elesnir".
Os dois saíram algumas vezes, se conheceram pouco a pouco. Faziam um casal lindo, os amigos diziam. O papo era bom, o beijo era bom, o cheiro era bom. Um mostrava seu mundo ao outro e juntos se impressionavam com as pequenas intersecções, apelidadas de coincidências, como todos os casais em início de relacionamento.
O tempo foi passando e o relacionamento foi esquentando. E Léo começou a ficar preocupado, pois estava verdadeiramente envolvido com a Luciméia, apaixonado de verdade, e quando eles começavam a se beijar mais ardentemente começava a angústia do maldito pênis saca-rolha. Por isso ele sempre a encontrava em lugar público, numa tentativa ingênua de driblar a natureza sexual da relação conjugal com pizza, piadas, peça, pipoca e passeio no parque.
Um dia a Elesnir o convidou para um íntimo jantar à luz de velas e colocando-o em uma situação impossível de recusar. Disse que queria conversar a dois, em clima íntimo, e Léo desesperou. Mas foi. Consultou doze urologistas e doze cirurgiões plásticos – como já havia feito anteriormente – em busca de uma nova tecnologia que destorcesse seu membro, em vão.
Chegou a noite. Como era de se esperar, o clima foi esquentando. As preliminares foram delicadas, românticas, como não podia deixar de ser, pois Léo era delicado e Luciméia também. Não obstante o clima ficou caliente. Percebia-se uma relação muito especial por nascer, povoada de sentimento, mas regada com o desejo contido de Léo. Comeram maravilhosamente bem o salmão grelhado com alcaparras e etcetera. Trocaram carícias. Regaram as carícias com algumas taças de vinho. Beijaram. Comeram sobremesa. Conversaram. Tomaram licor de jenipapo. Léo estava tão envolvido que já tinha praticamente esquecido a questão peniana, absorto e hipnotizado que estava pela situação. Nesse clima quase onírico Luciméia delicadamente recuou, sorrindo suavemente. Disse então que gostava muito dele e perguntou sobre como ele se sentia. Léo – ou melhor, Elesnir – se prontificou a atestar a reciprocidade. Ela então, meio sem jeito, começou a enrubescer e tentar explicar algo, mas tinha dificuldade. Resolveu então ser direta:
- É o seguinte – disse sem mais delongas – Meu nome não é Luciméia, é Tatiana. E minha vagina tem forma de redemoinho. Pronto, disse.
E os dois então casaram e foram felizes para sempre.
14 março 2006
Desktupi
 Desktupi é a alternativa tupiniquim para preencher a área de trabalho de seu computador. Para utilizá-la, clique na imagem abaixo para abrir em boa resolução, clique com o botão direito (ou equivalente) e salve em seu computador.
Desktupi é a alternativa tupiniquim para preencher a área de trabalho de seu computador. Para utilizá-la, clique na imagem abaixo para abrir em boa resolução, clique com o botão direito (ou equivalente) e salve em seu computador.Em seguida altere a imagem de sua área de trabalho para o Desktupi e junte-se ao movimento: Desktupi já!

08 março 2006
Vida de Vila
Estava a caminho da locadora, percorrendo a Wisard, quando topei com uma boa amiga que, perdida no meio da rotatória, não decidia se atravessava, esperava, saía correndo ou gritava, quando eu cochichei “psiu, psiu...” de dentro do carro... Fazia exatamente um ano que havíamos nos formado, graduado compartilhando classe e trabalho de graduação e um ano que não nos víamos até que nos encontramos aquela noite, dez da noite, para descobrir que ela estava morando exatamente na janela em frente ao meu próprio apartamento, separados apenas pela outrora pacata rua Fidalga.
Passado o susto e toda a sucessão de imaginações que atravessaram a mente de minha amiga escaldada em uma Vila que não conhecia bem, moça oriunda de Sertãozinho e recebida pela zona sul desde sua chegada, não hesitamos em esticar o papo. Ainda mais abordada aos gritos à noite por um barbudo descabelado em um carro caindo aos pedaços.
Ela iria comprar cigarros. Eu, devolver o filme.
Paramos em frente ao bar onde o garçom cujo nome não me recordo (e talvez não queira recordar, apenas pelo folclore) trabalha há muitos anos. Chamei-o pelo nome que ele me atende: Leonardo, um dos ‘tartarugas ninja’ e ele veio me acudir no carro, naquela segunda-feira aparentemente insossa. Não só ele tinha os cigarros, como nos trouxe a bordo e ainda trocou dez.
Fomos à locadora recuperando histórias e acertando o presente. Devolvemos o filme sem maiores novidades e subimos ao meu apartamento para tomar um suco e compartilhar as histórias com minha mulher. O suco deu origem ao chá, seguido de alguns petiscos e a conversa foi embora, inocente, porém com muita graça.
Ao fundo, o som de uma jam session dessas que animam praticamente todas as esquinas da Vila praticamente todos os dias da semana, conservava nosso aparelho de som calado. Um cachorro qualquer uivava. No tom.
Descobrimos o quanto nossas vidas tinham rodado com enorme amplitude, ainda assim nos levando a um espaço físico tão próximo. Falamos sobre os colegas que sobreviviam no cotidiano, falamos sobre os colegas que sobreviviam no coração. Falamos das aventuras e desventuras dos dois recém-formados, falamos de pensamentos e sentimentos, e ouvimos a chuva principiar.
Toca o telefone e um bom amigo que também vive em nossa rua convoca para um samba de qualidade em um bar na rua de cima, no domingo. Domingo que é dia de tédio ou depressão na maioria dos países, das cidades, dos bairros, na Vila tem samba. Aproveito o ensejo para convidar minha amiga, que não gosta de samba, mas gosta de vida. Este foi meu argumento para convencê-la sem mais. Minha mulher, animada, começou a se agitar e listar alguns amigos solteiros que seguramente estariam presentes e poderíamos apresentar a ela. Demos alguma risada.
Perguntei à minha amiga o que a trazia à Vila e ela culpou o acaso. Uma pena, pensei. Ou uma sorte.
Perguntei na seqüência se iria ficar por tempo limitado. Disse que estava de favor enquanto procurava algo na Vila Nova Conceição. Descobri, sem muito esforço, que aqui estava se recuperando de uma severa crise emocional. Descobri que estava freqüentando algumas facilidades da Vila como a Yoga, a feira da Mourato Coelho e um par de restaurantes que a tinha apaixonada. Uma pena, pensei novamente, achando que ela iria gostar da Vila...quem gosta de vida, gosta da vila.
Algumas semanas depois, percebi, ao olhar a janela em frente, que ela não mais estava hospedada com a amiga. Justo quando chegava a primavera.
Quem é Diferente?
Pedro é um menino diferente. Enquanto todos jogam bola e videogame, ele gosta de cozinhar. Começou aprendendo ovo mexido para o café da manhã e hambúrguer para o lanche e hoje ele cozinha até feijão. E dizem que é melhor que em restaurante.
Ana também é uma menina diferente. Enquanto todas as meninas do colégio gostam de ir ao shopping, comprar roupas, ver cinema e paquerar, ela só quer saber de jogar bola com os meninos. Em vez de se arrumar com batom e maquiagem, ela põe logo a chuteira e se joga na lama, para o desespero da máquina de lavar roupa da mãe.
Ana e Pedro são diferentes dos outros e por isso os colegas os tratam muito mal. Os meninos tiram sarro de Pedro porque acham que cozinhar é coisa de avó. As meninas dizem para Ana que jogando bola ela nunca vai arranjar um namorado.
Um dia, depois de jogar futebol a tarde inteira, a Ana encontrou o Pedro perto de uma árvore comendo um sanduíche delicioso que ele mesmo havia preparado. Morta de fome depois de três partidas, ela pediu um pedaço e os dois começaram a conversar. Ana então percebeu que não era a única que se sentia diferente e Pedro também. Conversa vai, sanduíche vem, eles ficaram muito amigos.
Depois de muitos dias, muitos sanduíches e muitas conversas ao pé da árvore, eles começaram a observar que outros colegas também tinham alguma coisa de diferente: o Luiz é gordinho, a Mariana só ouve música esquisita, o João, sem seus óculos, não enxerga nem sequer o próprio nariz, a Juliana passa o dia inteiro desenhando e não presta atenção nas aulas, e assim por diante.
Juntos, Ana e Pedro concluíram que todos nós temos algo de diferente e que isto é o que nos faz ser quem somos. A partir desse dia, sempre que alguém reclama ou faz graça do jeito de ser deles, eles não ligam, porque aprenderam a gostar das próprias diferenças.
PUTA SEM-VERGONHA DESGRAÇADA MALDITA"
Muita gente anda dizendo que o mundo anda meio esquisito, cada um com seu relato pessoal. Sou obrigado a concordar, e a relatar meu próprio caso.
Estava andando em uma rua ordinária entre minha casa e o ônibus, me sentindo estressado. Naqueles tempos de cidadão comum, assalariado, atolado de problemas financeiros, insatisfeito em casa, insatisfeito no trabalho, insatisfeito na rua, sentia a pressão da sociedade por aquilo que chamam de 'sucesso'. Ainda por cima era um dia quente e estava atrasado novamente. Chegando ao ponto me deparei com uma mulher que discretamente retocava a maquiagem enquanto esperava a condução. Inexplicavelmente veio-me um ímpeto incontrolável de gritar, sem mais ou menos: "PUTA SEM-VERGONHA DESGRAÇADA MALDITA!!!" desse jeito assim, sem vírgula nem reticência. Pronto, pensei, lá vem bolacha na bochecha, e fiquei imaginando se ela era destra ou canhota para preparar mentalmente a face correta. Já via a cena toda acontecendo, todos no ponto se revoltando, ela me desferindo um sonoro bofetão na madeixa e dando-me as costas com a elegância das pudicas mulheres quase-católicas.
No entanto, para a minha estranheza – para não dizer de certa forma uma desilusão – ela não reagiu violentamente. Me mirou com uma cara de cachorro abandonado e desandou a chorar, pedindo-me mil desculpas, que eu tinha toda a razão e que ela iria mudar, prometo e tal. Achei esquisito.
O fato é que de alguma maneira o ocorrido me animou e, sempre que estava nervoso, descarregava com a primeira donzela que apontasse em meu caminho, não importava o calibre: gordas, magras, ricas, pobres, prostitutas, evangélicas, jovens, velhas, enfim, quando sentia necessidade, soltava indiscriminadamente meu mantra à primeira que cruzasse meu caminho: "PUTA SEM-VERGONHA DESGRAÇADA MALDITA!!!" e deleitava-me com a reação das mulheres, todas desculpando-se, mesmo as mais confiantes, as mais metidas, tímidas ou desavergonhadas.
Não sei explicar que diabos era este fenômeno, se as mulheres têm uma culpa inata por conta de algum resquício de nossa sociedade machista ou da predominância católica no país, se era algum outro fenômeno sociológico mais complexo ou se simplesmente minha ira era tamanha que não houve uma sequer que ousou suspeitar de que meus desabafos eram inverdades.
Sem limites, comecei a metralhar minha própria família: mulher, filha, mãe, tia... foi quando me dei conta que o exagero poderia causar problemas psíquicos quiçá irreversíveis e eu nunca mais conseguiria me relacionar de forma saudável com uma mulher sem xingá-la, inconteste: "PUTA SEM-VERGONHA DESGRAÇADA MALDITA!!!". Me retirei a um afastado recanto na serra, em meio à natureza e com um acompanhamento psiquiátrico para tratar o estresse e retomar minha vida normal, em que as mulheres não eram todas putas sem-vergonhas desgraçadas malditas.
O que eu não podia ter imaginado era que, na minha ausência, a coisa se tornou uma mania e todos os homens da cidade começaram, pouco a pouco, a extravasar suas tensões na cara das mulheres que, conforme já vimos, retornavam em choro, lamentos e desculpas. Não sei se foi um ou outro amigo para quem eu havia contado e gostou da idéia ou alguém que viu o que eu fazia e fez igual, ou se saiu em algum telejornal ou programa de comportamento da MTV, mas a mania pegou pra valer:
Patrão xingando secretária: "PUTA SEM-VERGONHA DESGRAÇADA MALDITA!!!"
Funcionário xingando a chefe: "PUTA SEM-VERGONHA DESGRAÇADA MALDITA!!!"
Filho xingando mãe; criança xingando velha; o âncora do telejornal xingando a âncora do telejornal; ator xingando atriz no meio da peça de teatro para delírio da platéia; motorista xingando a oficial de trânsito sem tomar sequer multa; torcedor xingando a mãe do juiz; todos as categorias de homens tratavam as mulheres por putas sem-vergonha desgraçadas malditas sem o menor pudor.
Recém-chegado de meu tratamento, aquilo tudo me pareceu insólito e até fiz duvidar de mim mesmo quando lembrei que tinha sido eu mesmo quem havia inventado esta burlesca expressão.
Finalmente cheguei à casa, onde minha mulher me esperava com meu favorito bolo de fubá e cara de boas-vindas. Havíamos nos falado muito pouco durante meu retiro por recomendações médicas. Ao me ver entrar na casa ela sorriu, enquanto eu a cumprimentava com doçura: "Boa tarde, querida, como vai?", abrindo um sorriso e cerrando os olhos esperando um saudoso beijo quando fui presenteado com um sonoro bofetão com o verso da mão aberta na madeixa direita.
Quando dei por mim, assustado, enquanto a ouvia reclamar como eu podia ser tão desrespeitoso e vulgar, recuei e abri os olhos apenas para vê-la elegantemente dar-se a volta, empinar o nariz e marchar, com o orgulho ferido, resmungando baixinho para si: "Ora, justo eu, a maior das putas sem-vergonha desgraçadas malditas...".
Onze do Onze
Será que esta noite chuvosa de 11 do 11 marcará a volta da minha insônia?
Um mês antes do casamento de minha prima, dois meses antes do aniversário de meu casamento, um mês depois do aniversário de meu irmão ou dois meses depois do onze do nove? Numerologia à parte, claro que essa bobagem toda já denuncia um bom tempo pensando em tudo e pensando em nada. E já que não sei meditar, fato consumado: estou insone.
Estava já com algum tipo de saudades, devia fazer alguns dez anos que não tinha crises de insônia – ou seriam 11 anos? –, aquelas profundas maravilhosas agônicas crises de insônia. Insônia “meia-boca” que não dá nem pra contar ovelhinhas; insônia “só põe a cabecinha”, em que você pensa que não vai dormir a noite inteira, já quer xingar meio mundo, e de repente acorda todo babado; insônia “fuma, mas não traga”; e finalmente a tão gloriosa insônia “Full-house”, “Xeque-mate”, “Touch-down”, “Home-run”, “barba e cabelo” e outras metáforas mais. Esta é aquela que te deixa de vigília, sem bocejo sequer para lubrificar a cachola, pensando, claro, em nada e em tudo. Daquelas que, se não tiver acontecido nada suficientemente bom nas últimas 24 horas da vítima, é suicídio na certa. No mínimo resulta em umas drugs, uma sessão de tortura na TV aberta – que eu incluiria junto com as drugs, não fizesse tão mal – ou no mínimo uma quebra na dieta para satisfazer alguma carência afetiva.
A insônia pode ter distintas conseqüências para cada tipo de cidadão. No caso do artista, a insônia pode ser bastante proveitosa, em alguma medida inspiradora. Um momento de profunda reflexão faz bem ao ato criativo. Deve, porém, ser uma insônia natural, verdadeira, autêntica, solitária, senão não será uma insônia saudável. Conheço um figura que ficou 7 dias sem dormir enquanto cursava artes plásticas na USP com o objetivo de forçar os limites da consciência e produzir algo genial. O melhor que ele produziu durante a vigília foi um par de quadros que nem a mãe gostou e uma tremenda olheira que, essa sim, chamou a atenção da mãe. No caso do artista, no entanto, a recomendação é que tenha acontecido algo de extraordinário nos últimos 60 minutos, pois é uma categoria de gente mais suscetível. Senão, já sabe: suicida.
No caso do boêmio, a insônia é parte do cotidiano. Pode até vir a ser um recurso para os mais alcoólatras: Se o sujeito fica a noite toda manguaçando e, quando finalmente alcança a casa, lá pelas 8 da manhã, não consegue dormir de tanto vomitar no tapete da sala, quem sabe mais tarde, ao chegar a noite, bate o sono e ele se salva de um novo papelão?
Mas a insônia é realmente um problema, no fundo, para o sujeito normal, mediano, como eu. Não tenho arte pra fazer, não bebo por conta da minha gastrite e não teria nunca a manha de suicidar. A única conseqüência da minha insônia é a proliferação de maus tratos e palavrões aos que chegarem perto, misturados ao pingado do café da manhã. Tento chazinho, leite quente... já mandei até chá de camomila com conhaque Presidente para aplacar a maldita, mas só rendeu foi os resmungues da patroa na cama contra o bafo de cachaça barata.
Em um momento de devaneio absoluto apalpei minha esposa na esperança que ela estivesse imersa em algum sonho muito erótico – ou qualquer coisa muito diferente de nossa realidade frígida. Podia até ser sonho com o amante, não me importava, só torci para ela virar e me brindar com uma chupadinha de ninar. Ganhei, claro, uma cotovelada na madeixa e mais resmungues de que não era hora – acho, na verdade, que a hora já tinha passado havia anos. O pior é que agora, além da insônia, tinha um pau duro pra resolver.
Como não poderia deixar de ser, fui castigar uma no banheiro, pensando em uma das bundas mais ou menos gostosas – de povo mesmo, não de revista – que tinha subido a escada do metrô na minha frente naquela tarde de terça-feira. Talvez tenha sido esta a felicidade que me salvou durante esta noite, mesmo apesar de que continuo duvidando de que eu tivesse colhões para me matar. Mesmo que não de suicídio heróico, dramático, como presidentes e poetas o fazem, um suicidiozinho anônimo, assim, umas pastilhas, um veneno de rato... Não, nem isso eu conseguiria. Meu destino era sofrer, sentir cada músculo do meu corpo ficando segundos mais velho, inerte, com a boca cheia de dentes esperando a morte chegar.
Voltei à cama, coloquei a coberta.
Tirei a coberta.
Coloquei a coberta.
Me virei para o outro lado.
Tirei a coberta.
Tirei a meia.
Tomei água.
Coloquei a coberta.
Virei para o outro lado. (Bem que poderia haver mais lados)
Enquanto isso eu seguia espantando os pensamentos que me bombardeavam tentando me fazer pensar sobre quem eu era de verdade, quem eu queria ser, o que eu fazia, o que queria da vida, essas coisas chatas.
Levantei, fui ao banheiro. Tentei de novo a bunda do metrô. Nem isso funcionou. Um bom motivo agora sim, para ter insônia. E dizer que já tinha tido performances memoráveis como aquela noite em que trepei a noite inteira com duas mulheres e gozei sete vezes... Sete? Ou teriam sido 11? Ou onze mulheres? Ou ainda uma mulher, uma vez, e 1 mais 1 é igual a 11? Já não raciocino direito, os números parecem com as letras e as letras parecem desenhos, os desenhos se fundem em formas...
- Acorda, já são seis horas!
Quisera dormir até as onze...
06 março 2006
Jogo de Azar
Ganhou, como acontece todos os dias com algum felizardo. Porém, na hora de retirar o prêmio, começou o barulho. Zé Alcindo não era muito velho, mas já estava na idade em que percebia-se que a vida não prometia enormes mudanças em sua fortuna. Casado, pai de cinco crianças, era bem quisto pela comunidade e não tinha problemas maiores que todas as pessoas ordinárias têm com sua prole, com a esposa ou com o trabalho.
Zé Alcindo era gente simples, vivia em aluguel, dia após dia. Era homem correto e tinha fama de justo e honesto. Trabalhador da periferia da cidade e torcedor do time mais popular, Zé era um sujeito mirrado, magro e de estatura mediana. Mantinha-se sempre de barba bem feita, ainda que não tivesse gilete nova, e tinha uma postura altiva, talvez pela confortável sensação de não dever nada a ninguém.
Zé era conhecido também por seu espírito solidário, especialmente no que diz respeito a dinheiro, coisa que o levava inclusive a ter muito prejuízo ao emprestar para amigos, parentes e conhecidos, que se aproveitavam de sua generosidade. Muitas de suas brigas ordinárias com a esposa eram decorrentes das dificuldades decorrentes dos empréstimos de Zé, o “banqueiro” (como era conhecido pelos malandros reincidentes, tratando-o com desdém).
Sua generosidade também ao ajudar continuamente um velhinho que morava no bairro e que havia sido aposentado à força por um acidente de trabalho com um salário pífio que mal dava para se sustentar. Todo mês Zé recolhia os números com o velho, apostava na loteria, entregava-lhe o bilhete e não o deixava pagar, argumentando que este merecia mais um golpe de sorte depois de tantos golpes da vida.
Um dia, porém, o velhinho olhou bem em seus olhos e disse, com a serenidade dos velhos: “Meu filho, este bilhete é seu. Guarde-o bem.”. Não adiantou de nada sua retórica do golpe de sorte e tal, o velho virou as costas e foi-se, com jeito de quem não voltaria mais.
Não deu outra: o pobre velhinho morreu. Zé pôs-se a pensar longamente e sentiu-se contente pelo fim do sofrimento do velho que deve estar mais bem acomodado em outras vilas. Lembrou-se então do bilhete de loteria. Zé nunca havia jogado, não bebia, não fumava, enfim, era uma daquelas personalidades que transita entre o puro eclesiástico e o careta social. O resultado já haveria saído?
Já. O resultado já havia saído... E Zé mal pôde acreditar: seu bilhete era o único premiado. Perguntou discretamente, face ruborizada pela novidade da situação, de quanto seria o prêmio para o felizardo, e recebeu de contra-golpe meia dúzia de zeros – sem contar aqueles que vêm depois da vírgula –, tanto zero que ele não sabia nem soletrar.
Um milhão de reais já seria um dinheiro significativo, quando não incomensurável, em qualquer extrato da sociedade, quanto mais Zé Alcindo, cuja humildade nunca havia visto pessoalmente mais de três zeros, e trombava em ocasiões muito especiais com a nota de 50. Zé foi pra casa e resolveu ficar só, pediu compreensão a mulher que indagou se não iria trabalhar, e recluiu-se em seu quarto por dois dias. Não comeu. Não bebeu nem água. Não falou. Estavam todos preocupados, em especial a esposa, com as contas e o supermercado na cabeça. O máximo que Zé fazia era repetir o clássico que a mulher mais odeia ouvir do marido em momentos de crise: “Confie em mim, mulher...”.
A TV, o rádio e a internet gritavam para todo lado a estranheza do grande novo milionário foragido que não aparecia para retirar sua generosa aposentadoria precoce. Espalhava-se aos quatro ventos como “pela primeira vez na história desde que inventaram o dinheiro” se via uma situação tão inusitada, em que um amontoado de dinheiro esperava por seu dono e este parecia não se incomodar. Repórteres saíam à caça do ganhador, piadas rolavam por e-mail entre as pessoas, mas nada de Zé Alcindo apresentar-se. Um dia, justamente no último dia que o ganhador tinha de prazo para retirar o prêmio, o governo federal já não sabia ao certo o que fazer com o prêmio abandonado, um tal de Zé ligou para todas as emissoras de TV, convocou jornalistas, familiares, amigos e toda a comunidade em torno da pequena lotérica do bairro para retirar o prêmio.
Zé Alcindo então recebeu o prêmio em meio a uma confusão sem precedentes. Em seguida, em entrevista coletiva à imprensa, declarou que havia pensado, pensado, e que havia concluído que não era justo ele receber aquele dinheiro sem merecimento nem necessidade. Ele não era rico, claro, mas nunca lhe havia faltado nada, nem à sua família. Zé alegava que muita gente havia acreditado na falsa ilusão do dinheiro fácil, sem labor, e que resolvera, portanto, compartir o prêmio com todos os outros apostadores.
Tudo o que se via, em questão de segundos, os amigos lamentando, a família chorando, jornalistas correndo atrás do próprio rabo, trombando, como formigas depois de terem seu formigueiro destruído por um pé maldoso de criança. Zé começou então a mandar o dinheiro pra todo mundo. Feita a conta, as pessoas receberam o equivalente à metade do dinheiro que gastaram, e entenderam a mensagem.
Depois desta feita, o discurso de Zé não parava de ser reproduzido nas escolas, casas e paróquias da grande metrópole e de outras. As casas lotéricas entraram em crise profunda... Zé, no entanto, começou a ser chamado para inúmeros eventos, pela mídia que adorava colocá-lo em entrevistas e programas diversos de auditório; pelo governo para palestrar desde universidades a penitenciárias; por ONG’s e institutos para promover trabalho voluntário. Era disputado até pelas empresas para dar palestras de motivação e trabalho em equipe!!!
No decorrer de alguns anos, a vida deu uma volta completa. Feliz com a família e amigos, o dinheiro foi deixando de ser um problema. Com o tempo, sua fama correu o mundo e Zé, aquele mesmo Zé Alcindo da Vila pobre da periferia da cidade, era agora cidadão do mundo, viajava, ganhava muito bem e palestrava em três idiomas.
Apesar das diversas interpretações, inclusive muitas vezes mal intencionadas, sua mensagem era sempre a mesma, qualquer que fosse o idioma ou o tema da palestra: Dinheiro que é ganho sem justificativa, sem suor, sem merecimento, não tem valor, não constrói, ao mesmo tempo em que pode destruir com facilidade muita coisa.
De onde Zé Alcindo tirou tanta sabedoria, nenhum sociólogo, psicólogo ou qualquer outro explicólogo soube explicar, mas o fato real é que, no fim da vida, Zé, homem realizado, famoso e respeitado, acumulava uma fortuna aproximada de seis zeros – sem contar aqueles que vêm depois da vírgula.
05 março 2006
O Flerte e os Bolinhos de Chuva
Não costumo andar muito de metrô, pois sempre estudei ao lado de onde morava, com meus pais na zona oeste, e não carecia transporte. Na faculdade onde estou, tenho dois colegas que revezam sua paciência em me aturar no caminho até São Bernardo, onde curso veterinária. Caminho bastante a pé e meus amigos, em geral, moram na redondeza.
Naquele dia, porém, ia visitar uma tia-avó que me era muito querida desde a infância e havia me convidado para um chá. Dia de sábado, resto de sol quente se pondo, e um metrô muito aquém da movimentação megalopolitana usual em dias de labor me levava até meados da zona leste, outro lado da cidade, onde a tal tia me esperava com um toddy muito doce e dedinhos de manteiga ou bolinhos de chuva - essas coisas que só os mais velhos ainda fazem, apesar de todos, não importa a idade, gostarmos.
Entrei no metrô e imediatamente uma série de coisas começaram a chamar minha atenção. Não sei quanto aos usuários assíduos, mas para quem anda apenas de vez em quando no metrô como eu, os passeios são muito interessantes e bastante contemplativos. Pessoas de toda sorte, classes sociais distintas, idades mil, amigos, amantes, parentes, carentes. Isso para não mencionar os cortes de cabelo... sim, porque se um dia alguém quiser alguma inspiração para figurino de Almodóvar, basta passar um dia no metrô de São Paulo, entre os rappers, manos e hip-hopers, entre os operários, secretárias, prostitutas, playboys, patricinhas e desempregados, drag-queens, padres e estudantes, como eu: cortes que variam de volume, tamanho, cor, textura, cheiro, quantidade ou escassez, combinando com as vestimentas igualmente variadas em tons, cores e texturas.
Foi bem no meio dessa babel de cabelos – em um dia particularmente prolífico – que encontrei justamente um rapaz sem cabelos. Cabeça lisa, perfeita, brilhante, negando através da pequena subversão à moda uma vaidade inerente. Um rapaz moreno bonito, discreto, cabeça baixa, aparentemente absorto, porém atento. Vestindo camisa pólo bastante usada e sapatos que há tempos não vêem graxa, ele me chamou a atenção.
Comecei a observá-lo com maior interesse e não pude deixar de notar um olhar tímido em minha direção, com a cabeça igualmente baixa e um pequeno sorriso escondido. Eu hesitei um pouco, mas com o tempo e com a insistência daquele olhar, eu retribuí o sorriso. Pouco a pouco vinha superando a timidez que me corroera as tripas na adolescência e em boa parte da juventude, e tinha me dado conta de que eu havia deixado de aproveitar muita coisa porque não esticara o braço para agarrar com força a oportunidade. Tudo por conta da timidez.
Continuei fotografando a paisagem, agora com escala obrigatória nos olhos também tímidos do meu menino, que disfarçava, mas me observava. Entra passageiro na estação da Sé, desce passageiro na estação da Luz; vendedor de cocada vende bala compra passe faz foto, pedinte pede Real, bêbados pedem perdão, crianças desacompanhadas pedem passagem. Entraram e saíram vermelhos políticos, verdes artistas e amarelos vaidosos. Passaram guardas, cachorros e bicicleta; cidadãos comuns, de engravatados a sem-camisa, esportistas, camelôs, velhinhos lendo reader’s digest; moças gordas com bundas de Nélson Rodrigues; moças magras com bundas com sotaque francês. Eu permaneci, com meu menino em vista, vez por outra arriscando o tal sorriso.
Em meio ao flerte, ignorei a má educação do jovem que escarrou a meu lado, ignorei os assovios e palavras chulas de um grupo de moleques, esqueci do fim de calor do fim de tarde e finalmente passei a estação em que deveria descer ao encontro dos bolinhos de chuva. Esqueci onde estava, aonde ia. O tempo passou, muitas estações passaram, meu menino continuava imóvel e minhas emoções começaram a entrar em erupção, incontroláveis. Meu pensamento decolou fugaz e mil situações românticas me vieram à cabeça. Situações do passado vinham ilustrar o que eu queria fazer no futuro, uma velha chama escondida voltou a inflar meu peito, trancado havia muitos anos, e senti minha pele mais colorada, diferente do tom branco 'OMO dupla ação' habitual.
Mais estações passaram. Todos os tipos descritos foram abandonando o vagão e, após certo tempo, ficamos sós. Meu coração, neste momento, já estava em algum lugar do esôfago, o cérebro tinha dado tilt, o branco havia retornado em forma de suor frio, congelando todos os movimentos possíveis imagináveis para aquela situação: a sós com meu menino, que me fitava cada vez mais ousado. Quedei imóvel, aguardando o próximo ato, solenemente deixando o tempo passar.
Ele então se aproximou, meu menino, passo a passo a passo, lento, soberbo e ingênuo ao mesmo tempo, meu menino, sorriso já estampado na cara, leve ginga de malandro brasileiríssimo e eu, quase surtando, comecei a ponderar como seria sua aproximação: seria graciosa, com um cumprimento do tipo “Bom dia.”; seria torpe, atrapalhada como “Oi... er... tudo bem?...”; seria chauvinista, insegura, como “Você tem horas?”, acompanhada de um pigarro; seria um típico chavão tal qual “Você anda sempre nesta linha?”. Fiquei horas imaginando, ainda que foram poucos segundos durante os quais ele atravessava os sete assentos que nos separavam. Então ele fixou seu olho no meu, congelando automaticamente minha espinha, e, sério, com uma frase, originalmente distinta das que eu havia imaginado, me apaixonou:
- Isto é um assalto!
Quinze Minutos
Mantenho meu relógio 15 minutos adiantado. É curioso... todos me dizem, insistem, afirmam, gritam, suplicam, esperneiam que, ingênuo de minha parte, apenas tendo consciência dos tais quinze minutos, eu imediatamente consertaria os ponteiros na minha imaginação e no fim das contas não faria a menor diferença.
Eu insisto! Manifesto que não obstante à consciência, existe qualquer coisa mítica por detrás dos ponteiros-quase-chegando-no-horário, algo de pressão naquela impressão visual de estar constantemente atrasado, que me mobiliza. O que será?
Talvez seja o velho costume adquirido na puberdade colegial de deixar para a última hora a lição de casa, ou estudar na véspera da prova. Talvez seja o trauma vestibulando de despender um ano inteiro estudando neurótico para a prova e, portões fechados, atrasado justamente quinze minutos, atrasar um ano mais naquela agonia. Certa feita cheguei atrasado até mesmo na minha própria festa de aniversário surpresa e metade das pessoas havia ido embora.
O fato é que estou sempre tentando me enganar, anotando na agenda a prova um dia antes, falando o horário mais cedo para minha mãe, minha mulher ou a secretária me apressarem, e, finalmente, adiantando o relógio, acreditando tanto nessa pequena mentira e acabo por consertar minha vida. Nada mais de chegar atrasado no médico, perder sessão de cinema ou teatro, multas de zona azul, esse tipo de coisa.
Em meio ao êxtase de haver conseguido improvisar minha pontualidade britânica, topei com a triste realidade de que não me adiantaria nada ao lembrar o quão inútil era ser pontual, pois os outros compromissados falhavam em cumprir sua parte: o médico atrasava, o espetáculo não começava no horário, o parceiro de reunião estava preso no trânsito... Me perguntei qual era o problema e a resposta é simples: Acontece que moro no Brasil.
04 março 2006
Tem Certeza que Deseja Excluir?
Paraíso 404 - Not Found
03 março 2006
O Cupido e a Azeitona
Lá na Casa Verde não era diferente: todos conheciam a todos, o clima era de tédio. O pessoal até apelidou o trabalho de “Repetição Pública”, tamanha era a rotina e a mesmice do trabalho e das pessoas. Não havia grandes segredos, não aconteciam grandes eventos, a última notícia que causou alguma euforia nas pessoas fora um assalto na rua de baixo. Ninguém havia visto nada, mas, ao menos, significava algum assunto novo na hora do café.
Nesse contexto, vivia Arnaldo, um funcionário extremamente dedicado, porém sem brilho, muito tímido. Seus grandes feitos nunca eram reconhecidos, já que as pessoas em volta o ofuscavam, roubavam parte de seu crédito e ele, quieto e pacato como sempre, não se importava. Sua timidez era notória, alguns o tomavam por homossexual, pois a Juzimara, a secretária do chefe, uma mulher grande, alguns anos mais velha, cheiro de perfume barato, seios voluptuosos, cadeiras salientes - um verdadeiro caminhão de mulher, como diziam os mais desejosos -, já havia feito de tudo, sem sucesso... Ele sequer se defendia, apenas murmurava “Não é mulher para casar. Não me interessa.”.
O que ninguém notava, no entanto, era o olhar de Arnaldo em direção a Gertrudis, uma escrivã aparentemente sem graça, saia sempre longa, cabelos presos no alto da cabeça, óculos escondendo seus olhos caramelo, sorriso pequeno (que sempre cobria com a mão elevando os ombros, ao sorrir). Arnaldo era discreto, tão discreto que nem mesmo Gertrudis havia notado seu interesse! Não contava aos colegas com medo do barulho que causariam, nem se declarava com medo de ser recusado.
Gertrudis não deixava de ter certa atração por Arnaldo. Ela era a única que percebia sua dedicação ao trabalho e que reconhecia seu mérito. Admirava-o por isso, mais ainda por sua humildade de não contestar quando os colegas tiravam proveito de seus feitos e sacavam glórias indevidas. Para ele, o que importava era a certeza do dever bem feito. Gertrudis olhava timidamente e sorria seu sorriso pequeno, mas parava por aí. Dessa maneira, ambos sofriam embebidos em paixão platônica um relacionamento que estava ali ao lado, pronto para florescer.
Certo dia, no entanto, a repartição foi palco de mais uma das artimanhas do cupido. Houve um sorteio de um jantar romântico para dois no dia dos namorados em um restaurante bem razoável na Zona Oeste, e adivinhe quem levou? Arnaldo ganhou os ingressos. Digo que foi arte do cupido porque a sorte nada tem a ver com isso, já que Arnaldo era conhecidamente azarado, nunca em sua vida havia ganho sequer no Banco Imobiliário, quanto mais no Bingo ou um sorteio qualquer. Arnaldo enrolou e os colegas começaram a brincar e pressioná-lo a convidar a Juzimara para uma noite de volúpia, indiscretamente vomitando piadas sobre comer um bacalhau fresquinho e dois melões de sobremesa, entre outras obscenidades.
Arnaldo não cedeu à pressão e, determinado, dirigiu-se à mesa de Gertrudis, dizendo sucintamente: “Quer jantar?”. “Sim”, respondeu ela, sucintamente, como se estivessem tratando de um ofício que seria despachado ou um arquivo morto que devesse ser localizado. Marcaram, e no dia escolhido pelo cupido, Arnaldo foi buscá-la. De ônibus.
Os dois se entreolharam, ele com um pouco de perfume de mal gosto e com um terno que parecia de seu pai, camisa listrada, cinto e calça pretos, cabelo engomado e sapatos sobrengraxados, lustrados em exagero para esconder o desuso. Ela chegou com uma saia cinco dedos mais curta que sua saia sempre longa, o que já causou certa comoção em Arnaldo. Estava com o cabelo preso, mas sem os óculos, revelando os ternos olhos caramelo, de maneira que pela primeira vez Arnaldo percebeu como ela o olhava, comovendo-o novamente. A verdade é que o convite para o jantar a fez se sentir “mulher” pela primeira vez na sua vida, apesar de ela não saber muito bem como lidar com esse sentimento.
Após um traslado tranqüilo, chegaram ao boteco - pretenso restaurante europeu. O garçom apresentou-lhes a carta com os pratos paulistanos disfarçados com nome francês e o casal engoliu toda a fantasia, feliz e preocupado apenas um com o outro.
A mesa posta, reservada, no centro da casa, era de certa maneira intimidadora, já que o casal sofria gravemente do já descrito problema de timidez. A concentração dos dois era tamanha, no entanto, que se instalaram e pediram um vinho nacional com a maior desenvoltura, e Arnaldo desandou a falar sobre os mais variados assuntos, como infância, pais, trabalho, a questão da reforma tributária, enfim, o que vinha na cabeça dele, também por medo do silêncio. Gertrudis ouvia com atenção e balançava a cabeça de cima abaixo, em geral concordando. Vez por outra concordava com a discordância de Arnaldo em relação a alguma questão e variando o eixo do movimento, balançava a cabeça lateralmente.
Arnaldo se sentia nos céus. Não era virgem por pouco. Tinha tido uma namoradinha, uma menina do prédio, a qual dizia-se que conhecia todos os apartamentos do prédio, que o achava bonitinho, mas que o largou por um surfista maconheiro, deixando-o desolado, apaixonado. Gertrudis nunca tinha namorado sério, mas em uma brincadeira de médico, na qual o tema era cirurgia, foi aos finalmentes com um primo bem velho. E nunca mais. Sequer tinha certeza se aquilo realmente era o que diziam ser “fazer amor”.
Os dois já conversavam fluentemente quando o garçom aproximou-se com o vinho e um couvert: torradas, pão de queijo, duas azeitonas verdes graúdas, manteiga e um patezinho de atum com salsinha bastante simpático. Apressaram-se em terminar o assunto que estava embalado, sobre uma possível conspiração dos chefes de repartição pública para dominar o Brasil e instaurar uma ditadura - uma teoria de Arnaldo que ganhou admiração indissimulável de Gertrudis - e partiram educadamente ao ataque, dentro do tanto de educação e polidez que a simplicidade de ambos permitia.
Arnaldo insistiu que a dama tomasse a iniciativa, mais por medo de errar alguma etiqueta com relação à maneira de pegar na faca ou passar manteiga na torrada, um pouco talvez por cavalheirismo. Gertrudis delicadamente alcançou uma torrada e pediu licença a Arnaldo para experimentar o patê. A conversa diminuiu o ritmo e Gertrudis começou a tomar a iniciativa, estava se sentindo mais à vontade após bebericar um pouco de vinho tinto de Petrópolis e principiou a falar de sua vida, família, preferências e outros assuntos de gente tímida.
Arnaldo participava realizando, em seu turno, seu próprio repertório de concordos com a cabeça, acrescido de um pouco de sobrancelha às expressões, olhando fixamente um tanto desconcentrado com relação a conversa em si, pois sua cabeça nada podia pensar senão “Será que ela está gostando? Meu Deus, estou fazendo tudo direito? Ai, eu sabia, essa roupa não tá combinando, olha a cara dela...”. Acrescentava um ou outro comentário “coringa”, daqueles que serviriam para qualquer ocasião em qualquer lugar do mundo, com qualquer companhia, a qualquer hora. Falou sobre o tempo, sobre o sabor espetacular do vinho (que não tinha nada de saboroso), sobre o quão agradável era o restaurante e que sorte a dele em ganhar o convite.
Eu já mencionei que de sorte não teve nada, e que o tal convite para jantar fora obra do cupido. Digo mais, o cupido resolveu então dificultar um pouco as coisas que estavam indo tão maravilhosamente bem em uma noite que prometia selar um amor profundo com casamento e descendência. Arnaldo esticou a mão para provar uma azeitona. Gertrudis seguiu o falatório.
Foi quando Arnaldo engasgou. Quase tossiu, quase devolveu tudo à mesa, cuspindo o caroço no olho de Gertrudis, mas segurou sua reação em um movimento ninja de controle do esôfago e se restabeleceu sem que Gertrudis percebesse nada. Morreu de vergonha do que havia sucedido, não queria que Gertrudis percebesse, o que iria pensar de um sujeito que engasga com azeitona, pensou. E calou. Com caroço e tudo.
Gertrudis seguiu falando, mas percebeu certa alteração em seu companheiro, que não mais falava e vestia um semblante mais sério. Ao sorrir, não mais mostrava os dentes desalinhados, mantendo a boca fechada, expelia algumas gotas de suor, sua coloração parecia meio amarelada. Gertrudis imediatamente começou a se questionar se estava sendo companhia agradável, começou a sentir-se mal, a timidez voltou a crescer dentro de ambos. Arnaldo, com toda a vergonha de mostrar que tinha engasgado, não falava mais palavra sequer, além de que, a esta altura, o tom amarelado havia evoluído para um certo azul-esverdeado, enquanto respirava ruidosamente por suas narinas estreitas. Em Gertrudis crescia a certeza de que Arnaldo não estava desfrutando de sua companhia, e toda sua auto confiança começou a escorrer até o ponto em que começou a tentar esticar a saia para cobrir os cinco centímetros a mais expostos de suas pernas brancas.
Arnaldo tentou de todas as maneiras desengasgar discretamente, com a garganta, tomando um trago de vinho, se deu até uns tapinhas na nuca, esperançoso de que tudo voltasse ao normal, sofrendo com o tormento do caroço entalado na garganta. Tentou jogar um talher ao solo e abaixou, se esforçando embaixo da mesa em se livrar do companheiro inadequado. Gertrudis estranhou os ruídos. Tentou tossir, espirrar, não saía tosse, não saía espirro, não saía caroço, não saía voz...
Visivelmente irritado, levantou e foi ao banheiro em uma última tentativa desesperada, deixando sua amada a sós com o couvert. Um garçom, atento, começou a ouvir alguns ruídos inusitados partindo do toalete masculino e foi verificar. Adentrando o banheiro, descobriu Arnaldo em uma posição dificílima de descrever, correndo de costas, de cócoras, com uma mão puxando o queixo para baixo escancarando a boca, a outra se batendo na barriga enquanto topava as costas na parede, desequilibrado soltando um grunhido inédito.
O garçom se prontificou a ajudá-lo, esmurrando as costas, abraçando-o por detrás com todas as suas forças na tentativa de expelir o maldito objeto, mas de nada adiantou. Convocou então um time de futebol de garçons e começaram: dois apertavam a barriga, três o seguravam de ponta-cabeça, outros esmurravam as costas, uns até faziam cócegas nos pés ou lhe puxavam os cabelos, convencidos que ajudaria. Lá fora, o restaurante desatendido aguardava os garçons e profetizava o que poderia ser a barulheira dentro do sanitário. Certamente alguém havia comido algo muito indigesto, era o consenso geral.
Finalmente, quando o Jurandir cozinheiro, deu-lhe uma bicuda no cóccix, Arnaldo cuspiu o caroço, que varou a janela, quebrando o vidro e por sorte não atingindo ninguém, pois poderia acusar homicídio culposo. Arnaldo recuperou-se da surra, aprumou a camisa listrada com algumas marcas de chute, agradeceu aos companheiros com a voz recém-recuperada e marchou confiante, como um soldado que vencera uma difícil batalha, de volta à mesa para conquistar sua amada.
Se senta à mesa, sorridente, fala de música, cinema, viagens, até um pouco de novela para fazer uma moral. A moça sorri graciosamente, meio pálida, expressando certa aprovação com o olhar, mas não fala. Gesticulando, pede licença e logo se dirige ao banheiro, para surpresa do falante colega. Arnaldo então olha para o couvert e percebe que a outra azeitona não estava mais lá.
São Paulo, dezembro de 2001
Catatônico Informático ou Jonas e Gilda: Mais uma Triste História de Amor Interrompida
Todos se perguntavam: “Por quê?”.
Afinal de contas, Jonas era amado por todos, inclusive a própria sogra e até os vizinhos. Por que diabos isso foi acontecer com ele?
Futuro promissor, carreira ascendente, Jonas preparava-se para casar com Gilda, namorada havia tempos, mas que ele silenciosamente amou antes mesmo que ela notasse sua existência.
Jonas dera entrada em casa própria, possuía economias, já tinha recebido até oferta de trabalho no estrangeiro! Ficou, claro, por conta de sua amada Gilda.
Não chegava a ser filósofo, nem era muito conversador, mas quando se tratava de internet, não havia limites!
Jonas era da geração pós Revolução da Informação, da civilização plugada, aldeia global, conectada em sítios e não em canais de TV. Ganhara de presente seu primeiro computador aos 3 anos de idade. Trocava todo ano, claro, para não ficar obsoleto. Jonas cresceu no ciberdélico mundo da internet, em meio aos chats, conferências, sítios diversos, jogos, emuladores, simuladores. Curioso e auto-didata, se metia em tudo, aprendia, participava.
Aos 6 anos já era hacker. Aos 7 já trabalhava na IBM, programador e hacker “do bem”.
Com 9 anos Jonas já era diplomado analista de sistemas e programador sênior, gerenciava os sistemas dos oito maiores bancos brasileiros (que na verdade pertenciam a uma mesma holding internacional) e ocasionalmente fazia freelancer para o governo nacional.
Todos os ventos indicavam Jonas como herói nacional, não fosse aquela infeliz idéia do senhor Ministro não-lembro-o-nome da Informação e Sistemas, que decretou o tal “Feriado da Rede”, que ele clamava como “pelo menos um Domingo de verdade no ano”. Oras, o sujeito não podia Ter sido menos insensível nem mais arrogante!
O país afundou em depressão naquele Domingo. Os próprios psicanalistas e terapeutas não sabiam àonde recorrer, sem os chats e fóruns de discussão da Rede. Pessoas nas ruas eram vistas com tiques nervosos nas mãos e nos olhos, como se movessem um mouse invisível em uma tela inexistente.
Jonas não resistiu. Morreu de um mal comum nos países desenvolvidos: inanição de informação. Sem a conexão, Jonas tentou o jornal, a TV, o rádio, tudo junto até, mas não foi suficiente. De acordo com o depoimento de Gilda, pouco antes de ficar permanentemente catatônico, Jonas socava as paredes do apartamento: “Janelas, preciso de janelas!!!”, clamava desesperadamente o bom moço.
Faleceu aos 10 anos de idade. Pobre homem, futuro tão promissor, um verdadeiro vencedor, enfim, um modelo.
Atrapado no Tempo
Tantos relógios tinha Walter Augusto que eu não lhes saberia contar. Contava o tempo em unidades de segundos. Marcava o médico às 07hs.43’18’’ e perguntava à secretária quantos segundos iria durar a consulta, pois tinha mil compromissos em seguida. Só nos pulsos tinha três relógios: Um para minutos pares, um para ímpares e um por margem de segurança, dizia Walter.
No banheiro, dentro do box, ao lado de um grande relógio de ponteiros à prova d’água, havia um cronômetro, e um pequeno quadro de anotações onde apontava os melhores performances no banho (ou seja, os mais curtos, é claro), de acordo com cada categoria de banho. Os mais rápidos (que giravam entre dois e quatro segundos) eram os banhos de manhã, pois ele estava sempre concentrado em chegar logo a seus compromissos e não podia ficar perdendo tempo, literalmente, com perfumaria.
Na cozinha, Walter havia tirado todos os relógios para apressar a comida, porque senão sua esposa lhe dizia que a comida não estava pronta, que o arroz precisava cozinhar 20 minutos senão ficava empapado, que a carne estava mal passada, o macarrão estava duro, e outras tantas desculpas com o claro objetivo de mantê-lo em casa um pouco mais de tempo. Uma atitude, segundo Walter, claramente egoísta.
A sala de estar, no entanto, era cercada de relógios, curiosamente com horários diferentes uns dos outros, estrategicamente colocados para poder inventar motivos para mandar visitas inconvenientes como amigos e parentes às casas, quando o faziam perder tempo com suas constantes baboseiras de família, problemas conjugais, ou ficavam metendo o nariz em sua vida... Bastava um “Opa, hora de dormir, sinto, mas tenho demasiados compromissos logo nos primeiros segundos do dia!” apontando para o relógio que constantemente apontava uma da manhã; ou levantar assustado “Meu Deus, não vi as horas passarem! Tenho que dormir para dar bom exemplo a meus filhos”, mirando o relógio das duas da manhã; outra era colocar a culpa no jantar beneficente, com o relógio das oito, tinha que buscar o filho na festa às 23hs, ainda que o filho tivesse apenas 6 anos e estivesse dormindo desde as 19hs, ou ainda o jogo do Corinthians - e Walter nem sequer torcia para o Corinthians ou para outro time, era o time que lhe viesse à cabeça... os nem tão próximos tinham certeza que ele era viciado em futebol e até tinham certeza de o haverem visto em diversas ocasiões no estádio de futebol, coisa que nunca havia feito, pois considerava perda de tempo... Assim seguia, espantando os inconvenientes que lhe tornavam difícil manter os horários de seus compromissos em dia.
Já lhe disseram louco, neurótico, obsessivo, entre outros. Walter, no entanto, se dizia feliz. Durante o último ano, inclusive, durante um dos minutos que gastou com a mulher e filhos, perto das 23hs de um domingo, por protesto da mulher que o achava muito ausente, defendeu-se clamando que era o homem do futuro, organizado, produtivo, eficiente, havia faltado menos de metade dos 16 aniversários da filha, e nunca havia esquecido um presente de natal. Contava, para confortar a família, de um sujeito, que por estar muito ocupado com seus afazeres, não havia conhecido a própria filha até o aniversario de 11 anos daquela (ao contar esta história, não conseguia esconder um sorriso de admiração pelo amigo, que, na verdade, era seu chefe) e ainda assim era muito amado pela menina, que lhe havia enviado por SEDEX vários relógios de presente, relógios calculadora, relógios com jogos, alguns ROLEX, relógios com dezoito alarmes diferentes (esses eram os preferidos do referido pai e causavam a maior inveja nos colegas de trabalho, enquanto ele dizia com maior orgulho: “Foi minha filha... er... como é o nome dela? Bom, foi minha filhinha que me deu!).
Dessa maneira, mergulhado no cotidiano, Walter Augusto seguia sua rotina pulando, minuto a minuto, da hora do almoço à hora do jantar, da hora de levantar à hora de dormir, à hora do avião, à hora de sair, de fazer, sonhar, esquecer. Hora de perder, hora de deixar, hora de calar. Hora da hora de hora porque o relógio dos minutos pares da hora que Walter Augusto no meio das horas e minutos e horários e segundos e Walter foi se perdendo e sua cabeça rodando, foi colapsando, minutos do dia em que horas e segundos dos horários dos compromissos e rodava sua cabeça e Walter Augusto foi se perdendo mais, colapsando, olhos abertos ou fechados, relógios, somente relógios, digitais, analógicos, ampulhetas, cronômetros, o relógio de seu banheiro lado a lado com o Big-Ben, tiquetaqueando freneticamente diferentes pulsos, não via nada além, não se podia mexer, desesperou, desmaiou.
Acordou tempos depois, ninguém sabe quanto tempo na realidade, em um ambiente do qual não se recordava bem, ainda tonto, pensando freneticamente e às voltas com o tiquetaquear dos relógios à sua volta. Um velho gordo com cara de cansado e malcheiroso ofereceu ajuda, mas ele saiu correndo pela porta mais próxima e deu de cara com outros relógios. Voltou e tentou a outra única porta, já fora de si, desesperado, correndo ofegante com sua barriga saindo para fora da camisa de botões apertada, manchada de suor sob as axilas, e trombou com novos e variados relógios. A despeito da resistência do velho desdentado que o havia tentado ajudar e que agora o tentava impedir, começou uma batalha solitária contra os relógios em torno. Tomou uma vassoura ao melhor estilo Dom Quixote, e desferiu inúmeros golpes, aqueles que seu patético corpo de atleta de escritório podia permitir, acertando os relógios um por um, na intenção de acabar com o tique-taque que o deixava louco.
Logo percebeu, no entanto, que, por mais que destruísse relógios, sempre haveria outros, e que o tiquetaquear era quase um mantra constante que invadia sua cabeça através das orelhas, que não diminuía conforme ele ia destruindo as inocentes máquinas. Percebeu que fazia parte de algo maior e saiu a explorar. Perdido, voltou-se ao velho escarrado no canto da sala, com suas barbas azuis longas e sujas, e humildemente perguntou-lhe: “O Senhor tem um minuto para me ajudar?”. É claro que pediu logo um minuto, pois previa que um segundo não seria suficiente para esclarecer sua cabeça confusa ziguezagueando entre tiques e taques.
- Você não percebe onde está? Olhe à sua volta.- O velho falou, sorrindo com suas gengivas.
- Pois é a minha volta que me confunde!!! Por que tantos relógios? Por que esse som interminável de tiques e taques não diminui quando destruo estes relógios? O som não vem deles? – Perguntou ansioso Walter Augusto.
- Você responde a suas perguntas – lhe contestou o velho sem alterar sua fisionomia.
- Parece que há algo maior, seria... Seria uma espécie de Deus relógio que rege o tempo? – concluiu titubeante Walter
- Pense mais além... – seguiu o misterioso velho de barbas azuis.
- Eu destruo e destruo relógios e nada sucede. O tique taque segue como se não fizesse a menor diferença o que acontece com os relógios... Será...
Walter começou a observar, agora de uma maneira diferente que antes, com uma atenção especial, introspectivo, fechando os olhos, tentando sentir aquele mantra, aquele ambiente uniformemente disforme, com tantos relógios e tiques e taques que chegava a conjugar uma unidade. Os milhares de sons dissonantes passavam a ser um tom, um tom específico de certa desordem que Walter estava começando a desvendar.
Ele começou então a olhar individualmente cada relógio de perto e, detendo-se por longos instantes, sem ansiedade, sem afobação, Walter passou a perceber características humanas nos relógios. Um era mais gordo, bonachão, outro comprido e alto, com um tique-taque estridente. Um era elegante, refinado, inglês, até suas badaladas tinham sotaque bretão, outro era bem latin lover, com seu charme desengonçado, seus ponteiros afiados, porém sempre adiantado.
Walter começou a sentir-se mais cômodo, passou a cumprimentar os relógios, deter conversações por vezes, chegou inclusive a sentir atração por um swatch muito simpático que aparentemente não tirava os olhos dele. Walter sentia-se em casa, apesar de uma estranha casa, ao mesmo tempo que não compreendia totalmente o que estava acontecendo. Aparentemente, ao deparar-se rodeado de relógios, não sentia mais pressa, não se preocupava mais com o horário, seja ele em horas, minutos ou segundos. Sentia uma paz, uma plenitude, nunca dantes experimentada. Walter pela primeira vez em sua vida respirava fundo, até o fim mesmo dos pulmões, olhou o horizonte mais profundo e gozou. Teve um êxtase praticamente espiritual, e sentiu que o mantra que vinha ouvindo e agora já fazia parte da paisagem, nada mais era que o tempo único, da vida, um ciclo constante de idas e vindas, idas sem vindas, era o tempo unificado de cada um daqueles relógios com seus tique-taques aparentemente desordenados, caóticos, e cada um daqueles relógios era um ser humano. Tudo começou a fazer sentido para Walter Augusto naquele estranho novo mundo, exceto por uma coisa.
- E o senhor, então, quem é? – perguntou ao velho com ares de desconfiado.
O velho então aumentou seu sorriso, mostrando o resto das gengivas que lhe faltava exibir e gargalhou, enquanto puxava um grande espelho, erigindo-o de encontro a Walter:
- Eu sou você!!! Há, há, há!!!!- grasnou o velho com sua voz de corvo.
Quando o espelho confrontou a imagem de Walter, ele viu que havia transformado-se em um relógio velho, de madeira podre e ponteiros tortos!!! E que ainda por cima estava atrasado.
Walter então gritou como nunca havia gritado, sujeito controlado que costumava ser. Sentia que não podia mais mover-se a gosto, pois não tinha pernas. Não podia agarrar coisas, pois não tinha braços. Enfim, Walter havia transformado-se ele próprio em um relógio. Olhou para o lado e percebeu que aquele swatch já o estava mirando de maneira mais mal-intencionada, enquanto o velho gargalhava deliciosamente e se afastava. Repentinamente os tique-taques voltaram a ser desordenados e ruidosos, o pânico voltou a tomar conta do corpo (corpo?) de Walter e seu desespero crescente culminou em uma atitude radical: Walter parou.
Walter fez o próprio relógio parar, não se sabe como, nem ele sabe. Isso causou uma fúria enorme ao redor. Todos os relógios começaram a olhar para Walter com rancor, até mesmo os relógios mais dengosos, como o da Barbie ou aquele dos ursinhos carinhosos, pareciam monstros naquele momento. Um grande vento se abateu, uma luz fria e forte invadiu o ambiente, o tiquetaquear foi aumentando seu ritmo impetuosamente, provocando uma tortura quase insuportável, mas Walter resistia pois era o único jeito que podia imaginar de romper aquela ordem.
Ouviu-se então um enorme estrondo metálico e todos foram ao encontro de Walter Augusto, que estava bem embaixo do pêndulo gigante que estavam armando para o relógio da praça principal, o qual havia caído exatamente por onde Walter estava passando naquele mesmo instante, afundando-o contra o solo.
Walter Augusto então levantou-se, como se nada houvesse acontecido, quando muitos queriam arrastá-lo ao hospital, e foi direto ao trabalho, alegando que tinha um compromisso e que já estava deveras atrasado.
Janeiro de 2002
02 março 2006
A Chuva da Vó
A vó sempre contava de um lugar especial, um lugar bonito, cheio de coisas preciosas. Ainda lembro quando eu era bem pequenininha, ouvindo tudo aquilo com uma alegria só, e uma atenção que não prestava nem pra atravessar a rua.
Era sempre a mesma coisa: chegava a hora de dormir e lá vinha a vó dar um beijo. E lá vinha a vó com história. Mas eu não importava, queria sempre a mesma coisa, queria que contasse mais e mais como era esse lugar que ela tanto gostava.
"O céu era sempre azul, sol raiando, brisa leve, pássaros dançando e coisa e tal. Chovia, mas só pra regar a terra, porque o céu continuava azulzinho, era chuva de alegria, não de frio. Quando caía a noite, nascia a lua, lua nova, linda como se fosse primeira vez. Logo depois a lua começava a crescer até que quando a gente assustava ela estava cheia, tão clara que escondia as estrelas para a gente olhar só pra ela. No fim da noite ela minguava, para se pôr em seguida, dando lugar ao sol novamente."
A Vó contava que naquele lugar, os animais conversavam. Lá, os homens e mulheres cresciam mas ao mesmo tempo permaneciam crianças e brincavam entre si. As casas eram de cores vivas, muito alegres, com grandes janelas e sem chave. Não havia carros nem barulho nem tevê nem videogame nem computador nem Barbie nem dinheiro.
Eu então perguntava e perguntava onde ficava este lugar, curiosa, pronta para pegar a escova de dentes e correr, de carro, de ônibus, de mula, de a pé... Correr, correr pra chegar lá. Mas não tinha jeito, a vó não falava. Perguntava então como se chamava esse lugar, se tinha um nome tão bonito como era a imagem que eu tinha na minha cabeça. Ela insistia que não podia dizer, que eu tinha que descobrir sozinha, senão estragava tudo.
Cresci e larguei a vó como todo neto mal-agradecido larga. E a deixei largada até passar aquela fase egostróica que principia na adolescência e só termina quando a gente se dá conta que a vó não vai durar muito porque as vós dos amigos tão começando a passar desta pra melhor. Lembramos logo que elas ainda têm muito pra contar pra gente e que perdemos um tempão e temos que começar a correr atrás dela encaixando aqui e ali na rotina da roda-viva uma que outra viagem para aquela afastada cidade do interior onde ela se refugia. Neste ritmo, uma ou duas vezes por ano vendo a vó fraquejar aos pouquinhos não sei se mais por idade ou solidão, fui recuperando devagar a memória daquele lugar tão especial, que não deveria nunca ter saído da ponta da língua, nem da pole-position dos meus sonhos.
Fui amadurecendo minha vida. Visitando de quando em quando a vó, mas já não falávamos daquele lugar. Talvez porque eu não dormisse perto dela, talvez ela mesma o tivesse esquecido.
Casei. Tive meus filhos.
Meus filhos cresceram. Minha vó se foi.
Quando a vó se foi meu coração apertou. Além de todo aquele aperto de perder um ente querido, senti um medo profundo de nunca mais conseguir lembrar direito como era aquele lugar, nem nunca descobrir onde fica.
Essa agonia me assombrou por certo tempo. Até que virei vó. Ao ver a primeira filha da minha filha, a emoção transbordou. Quando eu achava que ter filho e neto seria a mesma coisa, percebi que estava enganada. Redondamente. A vó sabe muito de muita coisa, e sabe o quanto os netos não sabem. Ainda assim ela não tem a urgência de educar a sobrevivência da criança como os pais têm. Ela já passou por tudo isso e sabe que sobrevive do mesmo jeito.
A lição de casa da vó é distribuir amor, afogar os netos com liberdade, subverter todas as regras e disciplinas do lar, enchê-los de chocolate, jantar batata-frita com eles, comprar-lhes presentes inapropriados, alimentar as crianças de imaginação. Tudo isso sem esquecer de escovar o dente. E, mais importante, de contar histórias. Finalmente, quando comecei a contar histórias para minha primeira netinha, coisinha linda, foi que eu percebi o que a minha vó queria me dizer. Aquele tal lugar, aquele céu azul, todo esse mundo que minha vó me contava era um lugar ao qual não se vai de carro, ônibus, mula ou a pé. É um lugar que tem lua, bichos que conversam, gente grande que brinca, céu sempre azul, brisa leve, chuva pra regar o jardim. Mas não tem nome. É um lugar que todos nós conhecemos, lindo, único. Não fica perto nem longe. Fica escondido dentro da cabeçinha de uma criança bem-amada.
Março de 2006
"Contrato de Casamento"
- É, Sabiá, suncê se alembra de quando que nóis proseava do tar de contrato cum Deus nosso Sinhô quando de que nóis num creditava nim nada daquilo? Pois então, Sabiá, eu sei que nóis num assina nada com Deus quando casam nóis assina é no cartório, num é vredade? Eu sei que suncê já sabe de tudo isso, mais é que suncê, que nunca subiu num altar, num sabe do que é mais importante... Sim, sinhô, casa num é fácir, sô! O tar do contrato cum Deus nosso sinhô é coisa muito da séria. Falô, ta falado! Suncê si alembra de quando de que nóis assuntava bem disso mesmo? Foi antes deu cunhecê Mariazinha, num é vredade? Nóis juro que se casava, nóis ia continuá azarando a muierada, si alembra? Eu sei, eu sei que ocê continua cum a mesma arresolução, mais é que ocê nunca subiu no altar, Sabiá, suncê nunca oiô nos zóio do padre e disse “sim”, dibaxo daquele baita daquele Jesus Cristo te olhando cum cara de pai brabo, suncê nunca juro pro Deus nosso sinhô que nunca mais ia se engraçá cum outro rabo de saia i que ia ficá cum sua muié pra tudo o sempre... Cê num ta querditando ni mim, num é?? Vô prová procê intaum. Suncê foi no meu casamento, num foi? Suncê num é bobo nem nada, eu sei que ocê viu como eu logo antes de jurá tudo aquilo eu tava ali se arrumando cum a Gracinha de dá um cheiro dispois, num é vredade? Suncê viu que eu podia oiá e cunversá cas muié à vontade que num sucedia nada, num é vredade? Pois é, Sabiá, suncê num sabe as coisa que me aconteceu dispois de toda aquela juração pra Deus nosso sinhô... Nóis saímo tudo da igreja e fumo cumê a ceia que a sinhazinha tinha arrumado pra nóis, num é vredade? Ah, ocê num foi? Intaum, nóis tava já na casa da sinhazinha quando o Jérson me assuntô que a danada da Januária tava cheia de graça pra cima de mim, dizendo que num querditava que dispois de casado eu ia continuá cum aquele fogo todo. Ah, eu fui rapidim pra cima da danada tascá aqueles zóio em cima dela, sabe, Sabiá, aqueles zóio que o povo fala que se eu num tomá cuidado, mata muié do coração? Intaum, fui perparado pá tascá os zóio na mardita da Januária quando uma baita duma mosca varejêra arresorveu adentrá meus zóio cum tudo!!! Cumpadi, e prá tirá o bicho de drento, suncê num viu o aperreio que foi!!! Se suncê acha que foi concidênça, guenta as barba aí, sô, que tem mais... Dispois de me arrecuperá, deixei a Mariazinha de lado e fui me embora acertá as conta com a Graça pra dá aquele cheiro mais tarde, num é? Tô certo ou tô errado? Intaum, num é que quando eu abri a boca pra acertá as coisa cum ela, entrô um bisoro avoando direto na minha garganta, Sabiá, foi um engasgo só!! Dessa veiz eu quase fui pará no hospital, mais o sinhô Olavo me deu-lhe uma chisbatada nas coista que o bisouro saiu voano rapidim e só foi pará pra lá do Paraná!!! Nessa hora, Sabiá, foi que eu olhei pro céu e começei a disconfiá do tar do contrato. Bom, dispois, na hora da sobremesa, a Chiquinha, sabe aquela? Fia do Nhô Sebastião, que tem mania de andá por aí sem as ropa de baixo? Pois é, ela mesma tava do meu lado na hora de cumê os pavê da fia da sinhazinha. Eu num tive nem tempo de pensá e lá tava minha mão se metendo nas perna dela! Suncê sabe cumé que é, né, Sabiá? Essas coisa acontece sozinha, minhas mão foi tudo sozinha nas perna dela, até sem eu mandá... Mais num é que apareceu uma diaba duma caranguejera pra mi rancá os dedo fora? A sorte é que seo Gerardo, pai de Mariazinha, que é dotô, mi tratô rapidim, bem na hora que começô a inchá bem o dedo que tava cum a aliança!!! Suncê vê cumé que é as coisa, Sabiá? No finar inchô tanto que tivero que rancá meu dedo fora cum aliança e tudo e nóis pusemo a aliança em outro dedo. O pessoar bem que falô que nim otro dedo num tinha validade, foi o maior quiprocó! Mais eu num quis sabê de mais história, pus a aliança no dedo indicadô, peguei a Mariazinha e me tranquei deiz dia mais deiz noite na nossa casa. Agora sei que sô hómi casado, comprometido e contratado da Mariazinha e num mexo mais cum esse negócio de juração pro Deus nosso Sinhô, pruque a coisa é braba. Tô certo ou tô errado?
Encontro
Eu nunca fui especial. Em todos os ambientes por que passava conseguia a façanha de ser um completo anônimo. Eu sequer conseguia ser medíocre, sempre mediano. Como conseqüência nutria inveja não apenas dos belos e bem sucedidos, dos líderes, dos que brilhavam, mas também dos medíocres, já que de sua própria maneira os medíocres eram também especiais.
Ainda assim, com esta realidade deprimente e insossa, nem revolta eu tinha, eu era apenas um cara que levava um dia após o outro, sem muito sonho nem ambição, não era bom nem mau, não era cheio de vida nem suicida. Não era destes que se faziam piquete contra os valores da sociedade maniqueísta que celebra uns em detrimento do coletivo, como em uma eterna brincadeira de polícia e ladrão, mocinho e bandido, herói e vilão – como se não houvesse quase ou talvez. Não conversava com os amigos nem fazia terapia para tentar resolver algo, pois para mim não era nem mesmo um problema.
Tantos grupos e tribos pelos que passei foram os quantos a que emprestei minha indiferença, e os mesmos quantos que não me viram por eles passar. Primeiro eram os tais jogadores de futebol e as meninas com brilho no olhar. Depois vieram aqueles das atividades extra-curriculares, o judô, a natação, a turma de escoteiros. Um cara sozinho tinha ganho todas as medalhas de honra ao mérito desde que éramos lobinho até o último grau, e parecia que nem fazia esforço. O pior era que eu nem sequer conseguia ser amigo dele ou do capitão de futebol. Talvez porque nem tentasse.
Então veio a faculdade e as categorias de líderes se subdividiam: por desempenho (os políticos, os esportistas, os intelectuais, os que desenhavam ou escreviam bem e os que brigavam bem); por posse material (os que tinham belos carros, belas roupas, uma casa na praia, uma calculadora importada ou até um belo material escolar e compravam todos os livros novos em vez de comprar no sebo ou fotocopiar como eu o fazia); havia ainda os que tinham algum tipo de destaque por valor agregado (belas mulheres, belo corpo, uma bonita caligrafia que fosse). Eu observava, cada vez mais humilhado, como todos tinham mais que nome, tinham um aposto: "Fulano, que desenha caricaturas do professor!" ou "Ciclano, o centroavante canhoto." Ou ainda algo mais besta como "a nariguda do terceiro ano". Eu não tinha sequer um defeito que me identificasse. Meu nome era convencional, sobrenome comum. Nunca sequer me brindaram com um apelido, o que faz todo sentido, pois não havia como destacar uma qualidade, um defeito, uma habilidade ou uma torpeza que me fizessem famoso, eu simplesmente era. Era sem ser nada de mais ou de menos.
Logo veio a carreira profissional e me deparei com os mesmos personagens e as mesmas questões. Diferente de uns colegas geniais e outros fracassados, não ficava de fora nem dentro. Não tive que passar por mil entrevistas para conseguir finalmente meu primeiro emprego, tampouco fui promovido com rapidez. Não fiquei rico nem passei fome. Virei um típico burguês sem graça com suas necessidades fisiológicas e mundano-sócio-culturais satisfeitas por um salário razoável e uma vida segura e suficientemente regrada. Não tinha vícios nem fraquezas demais. Era, novamente, convencional.
A impressão que eu tinha era de ser uma gota num imenso oceano. Não era nem da superfície nem profunda, apenas uma gota intermediária, que não ajuda nem atrapalha. E o era, efetivamente. Ás vezes penso que não fosse pelas tantas gotas que compõem o oceano, não existiriam as gotas da superfície ou das profundezas, que parecem ter mais personalidade, se destacam do resto do oceano. Sem estas gotas "operárias" não haveria como as célebres gotas da superfície formarem belas ondas (ou catastróficos tsunamis), nem como as gotas viajantes do fundo comporem as correntes climáticas. Ainda assim eu sentia que havia gotas e gotas. Mesmo entre as intermediárias havia umas e outras que se diferenciavam. Eu não compunha nada, eu não tinha papel, não tinha uma identidade, nem como gota, menos ainda como gente.
Ainda assim nada disso parecia me incomodar e eu seguia sendo o mesmo bosta em todas as situações. Então apareceu na história da minha geração a Internet. Na rede eu encontrei a possibilidade de viver de novo e entrar em tantas micro-sociedades quantas quisesse em busca de um papel relevante, uma liderança qualquer, buscar em mim algo diferente, abrir um blog, qualquer coisa. Tanta gente entrava com diferentes nomes, incorporava a própria idealidade em busca de um Eu que não era possível e, de repente, este novo Eu era tão bacana que a pessoa deformava sua personalidade tornando-se o próprio alter-ego. Muitas vezes tais mudanças não duravam, mas as conseqüências eram, no mínimo, interessantes.
Eu havia tido muitas oportunidades de começar de novo nos tantos grupos dos quais fiz parte, mas estranhamente não queria ser outra pessoa, em todas as comunidades, sociedades, núcleos ou tribos dos quais fiz parte em alguma medida, fui o mesmo ser invisível. Na rede, sem embargo, eu poderia ser outra pessoa sem deixar de ser eu mesmo na vida "material", no contato físico com as pessoas. Eu acreditava que esta separação mediada por uma máquina me causava um tipo de distanciamento que me permitia ligar de desligar o módulo de mudança de identidade da mesma maneira que ligava e desligava o computador ou conectava e desconectava na rede. Assim eu poderia experimentar outras viagens sem ter que arriscar qualquer tipo de emoção ou mudança de personalidade. Ou seja, poderia continuar o mesmo idiota de sempre após o off.
Convencido de que não estava colocando minha personalidade apagada em xeque, comecei a experimentar apelidos, acessar salas de bate-papo, aos poucos fui construindo um alter-ego sólido online e lograva seguir indiferente no mundo offline. Isto me fazia de alguma maneira feliz, apesar de que não era exatamente felicidade o sentimento, era algo muito mais suave, era como um meio-sorriso, aquele de quando você está cheio de problemas e alguém te faz uma piadinha que ameniza a dor por um instante. Uma alegria que é egoísta porque não serve para contagiar os outros e miserável porque não é relevante suficiente para gravar qualquer memória. Serve apenas para fazer aquele meio-momento um pouco mais suportável.
Elaborava as características físicas e emocionais na medida que se faziam necessárias, parti apenas de um perfil básico daqueles caras que acabo de descrever. Meu avatar era bem-sucedido, popular e tal, como aquele pessoal da escola e dos outros lugares que freqüentei. Estranho, porque nunca quis ser igual a estes personagens, mas na hora de me reinventar foi o que saiu.
Saí pela rede em largos passeios conhecendo gente em distintos ambientes, salas mais ou menos elaboradas, gente que devia estar dizendo a verdade, gente que também estava mentindo. Eu não ligava para nada do que era ou não verdade, afinal no final iria apagar o monitor e logo nada mais daquilo faria diferença. Conversava sobre qualquer assunto a qualquer hora que estivesse disponível. Não me considerava viciado, nem me causava tanto prazer como já disse, mas passava o tempo bem melhor que programa dominical de televisão aberta.
Não gostava de criar vínculos com os outros internautas. Achava as pessoas muito carentes e fracas. Aquilo para mim não era vida. Curiosamente, em vida eu era especialmente carente e depressivo, mas não deixava transparecer, pois não queria mudar, não queria terapia, não queria mulher e filhos. Se a conversa durasse muito ou os interlocutores começassem a perguntar coisas muito pessoais eu logo inventava novas mentiras ou simplesmente fechava a janela sem mais, sem adeus nem até breve, sem trocar telefone nem e-mail. Quantas vezes na vida eu desejei ter o poder de desligar-me assim, tão fácil, em um clique de mouse, apertar um botão e aquele cara pentelho não está mais na sua frente, não ter que dissimular, fazer cara de contente ou acenar com a cabeça em sinal de aprovação muito embora não estivesse ouvindo nada.
Um desses dias na rede estava conversando com um cara que me pareceu interessante e não entendia bem por quê, mas me senti muito mais envolvido. Eu não entendia nem me importava se ele tinha algum interesse escuso ou se apenas conversava, eu queria era conhecê-lo mais e mais. Nunca entramos em detalhes físicos, acredito que o negócio eram as palavras. Mesmo contra todos os mandamentos que me norteavam na rede – os quais eu mesmo havia inventado – comecei a construir uma relação no mundo digital, conversando largamente, marcando encontros e trocando sentimentos.
Não sabia o que era que me atraía. Não sabia o que me fazia continuar interessado. Nunca havia passado este tipo de emoção nem com uma pessoa, nem com um livro, nem com um cachorro que fosse. Era uma entrega deliberada, e aos poucos fomos entrando em intimidades que eu nunca havia compartilhado antes. A princípio me custava um pouco porque dava trabalho ficar inventando todas aquelas mentiras sobre meu avatar. Com o tempo fui incorporando a personagem e o jogo ficou mais natural. O que era estranho era o que tinha naquele personagem que me fazia querer conhecê-lo tanto?
A princípio pensei que poderia ser algum princípio de atração física – o que para mim não faria diferença alguma – mas não tinha nenhum apelo sexual na relação, era definitivamente outro tipo de atração. Comecei a identificar que aquele sujeito tinha traços familiares: seus gestos, seu modo de escrever, de descrever. É como quando você reconhece alguém muito ao longe pelo jeito como caminha, mas ao mesmo tempo você sabe que é mais que isso, que você reconhece aquela atitude, aquele ar, aquele movimento de braço ao longe, todo um emaranhado de indícios que te fazem concluir irrelutante que conhece aquela pessoa.
Os modos de ele falar, suas reflexões sobre a vida, as poucas características físicas soavam muito próximas. Ele me respondia exatamente como eu responderia. Eu me sentia capaz de escrever um diálogo completo antecipadamente e fazer as perguntas na sala de bate-papo, que as respostas já estariam previamente escritas em meus esboços. Pensei se não era algum amigo, possibilidade que foi muito fácil de descartar porque não eram muitos os amigos. Logo pensei se não era algum familiar, mas não consegui identificar ninguém. O mesmo com companheiros de trabalho, colegas de faculdade, conhecidos em geral. Até que eu percebi que era mais próximo que simplesmente "alguém": o que me parecia familiar eram coisas mais profundas que os jargões ou erros de português recorrentes. Mais profundas inclusive que as poucas descrições físicas que eu tinha lido na tela outro dia quando o assunto veio à tona. As características que eu identificava eram da personalidade mais íntima, tão íntima que eu poderia adivinhar o que era que ele iria digitar em seguida. Sabia a resposta no ato em que eu mesmo fazia a pergunta. Fui me dando conta que ele era muito parecido comigo.
Suponho que foi tão difícil perceber o quanto se parecia comigo mesmo pelo pouco que eu refletia sobre minha própria vida. Eu não tinha o costume nem sequer de olhar a cara no espelho, quanto mais as palavras. Nunca havia feito terapia, não rezava nem confessava, não tinha amigos para beber e trocar segredos de botequim. Aquele sujeito era o reflexo do que eu tinha de mais íntimo, da minha personalidade mais enterrada na natureza dos meus gestos, da racionalidade mais pessoal de minhas decisões. Obviamente fiquei assustado, assombrado, intrigado e um monte de outras emoções que não conhecia ou não lembrava, provavelmente não as tinha desde a infância. Seguramente nunca as havia tido todas juntas de supetão como naquele momento.
Convivi durante um tempo com esta estranha emoção, sentimentos fortes e desordenados, algo que nunca me havia atingido em minha completa obscuridade. Senti-me mobilizado, curioso, inquieto, no afã da descoberta de algo especial. Este algo poderia ser eu mesmo. Este espelho virtual incrível poderia me revelar grandes coisas, verdades profundas sobre mim mesmo. Meu interlocutor era um oráculo de mim mesmo.
Muitos poderiam ficar maravilhados, deslumbrados com a situação. Filósofos e psicólogos iriam à loucura, artistas seguramente a encontrariam como fonte de inspiração, cientistas tentariam explicar a coincidência – já que não acreditam em coincidência –, e capitalistas arrumariam alguma maneira de transformá-la em lucro. Por algum tempo pensei sobre como deveria lidar com isto, que bem poderia fazer para mim, para os próximos ou, quem sabe, para a humanidade? Ao mesmo tempo que me sentia insuflado, ofegante, com as pupilas dilatadas na adrenalina da descoberta de mim mesmo na rede e especulava sobre o que fazer, como reagir, como lidar com este fenômeno, continuava conversando e descobrindo mais e mais como realmente aquele sujeito era este. A adrenalina foi crescendo junto em quanto mais ousadas se tornavam minhas especulações. Fiquei dias sem dormir, sem comer, sem trabalhar e sem desconectar. Não atendia o telefone, não ligava o televisor, não levantava senão para as necessidades fisiológicas, se muito.
Foi então, no auge do cansaço e do descompasso, quando me encontrava desesperadamente sem forças e que parecia não haver luz no fim do túnel, que me veio a resposta de uma maneira muito clara e inquestionável. Foi como uma luz divina, uma daquelas revelações que não se pode explicar muito bem como sucedeu, porque não veio através de palavras ou gestos, mas nasceu e floresceu dentro de si. Depois de pensar sobre as tantas maneiras de lidar com a descoberta de meu ego digital, desde as pequenas coisas até as soluções para os problemas do mundo, após me embriagar de corpo e alma comigo mesmo em versão virtual, uma última chispa de energia me vestiu. Fatigado, porém sereno, movi lentamente o mouse, fechei a janela. Em seguida desliguei o computador.
Resolvi nunca mais me conectar: a obscuridade era mais fácil, eu não precisava ser nada, apenas ser. Não é suficiente? Dentro de minha completa opacidade social eu não tinha a responsabilidade de brilhar, de resolver grandes questões da humanidade, ou sequer pequenas questões do condomínio de meu edifício. A vida para mim era apenas vida. Cada momento cinza desta vida era um momento neutro, um momento a mais que eu havia sobrevivido. E isso era tudo. E isso era suficiente. Por quê se há de dramatizar tanto a vida no final das contas? Decidi que a vida é mais simples que lutar, mudar, aperfeiçoar, evoluir, isso tudo vem naturalmente, não há que haver pressa, competição ou superação. Deixe-me estar.
Doei o computador. Joguei fora todos os espelhos da casa. Fotografias eu já não tinha mesmo. Voltei a me preocupar com nada senão descobrir outra maneira de estimular novamente aquele meio-sorriso, e viver meio-momento a mais.
Janeiro de 2005